2010-2020: Um Retrato do Jazz Nacional
As figuras e os discos do jazz nacional que mais cativaram a redacção da Arte Sonora entre 2010 e 2020.
A AS arrancou em 2008. Será redundante dizê-lo, mas vale a pena repetir. Foi uma altura feliz para o fazer, se pensarmos que nestes últimos anos a excelência criativa e a exuberância de execução se tornaram recorrentes na música portuguesa. Discos tremendos, enorme variedade de géneros e estilos e uma coisa cada vez mais comum e em comum: atitude! Nesta mais de uma década há uma celebrada ascensão feminina que já não passa, com sucedia antes, somente pelo fado. Há rock bem eléctrico e há electrónica. Há experimentação e há fusão. Há hip hop e apenas pop. E o jazz…
Nem sempre fácil de abordar e, admita-se, é algo distante do nosso núcleo editorial. Por vários motivos o jazz foi-se mantendo marginal na AS até, precisamente, em 2010 um disco chamado “Roll Call” ser um dos primeiros destaques que demos ao género. Com o passar dos anos, mais e mais músicos e álbuns jazz têm estado no nosso radar.
Há que reconhecer o seguinte, “não percebemos muito de jazz, mas sabemos do que gostamos”. Eis, os nossos destaques do percurso redondo entre 2010 e 2020 (sim, sem dúvida que faltam aqui outras dezenas).
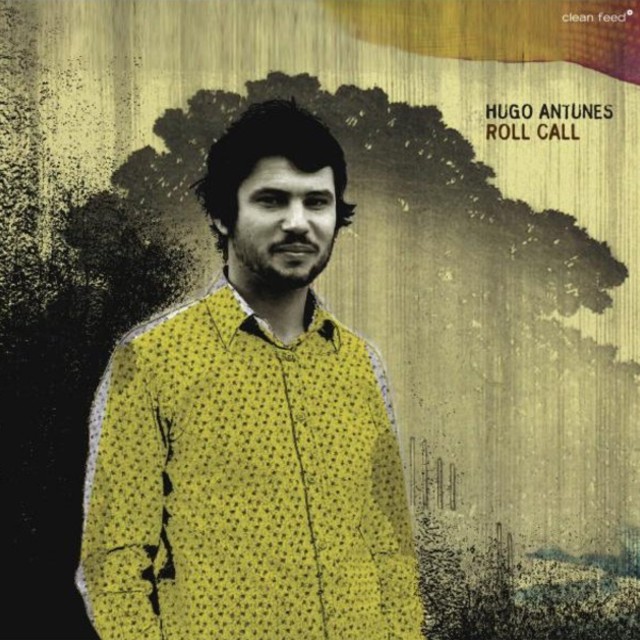
HUGO ANTUNES E OS DOIS TRIOS EM UM
O percurso académico conduziu Hugo Antunes até Amesterdão e até ao contrabaixo. Como conclusão de um ciclo gravou “Roll Call”, que serve como um eixo de evolução e progressão também no espaço de improvisação que as músicas deixam. Deveras inconvencional, com duas duplas de instrumentos (2 saxofones e 2 baterias), sendo o baixo de Hugo Antunes o único elemento solitário e, de resto, o eixo de todos os temas. “Roll Call” é composto por proposições de estruturas para a improvisação que, por si só, não mostram inovação – nem é esse o propósito – mas uma capacidade impressionante de dominar a emergência dos instrumentos a cruzarem-se entre si e a chamarem uns pelos outros. É nesse domínio demonstrado que “Roll Call” é um disco excepcional, para lá das capacidades técnicas de cada um dos músicos – e estamos a falar de músicos com uma juventude considerável, o que provoca a sensação de estarmos apenas no emergir do potencial de cada um. Depois o charme que exala dos temas e a forma como mantém o ouvinte concentrado na sua audição tornam este trabalho em algo refrescante e parte duma nova forma de estar no jazz, sem a procura do elitismo. Descobrir este álbum, em 2010, foi uma das experiências mais gratificantes até essa altura, na AS.
★

O PIANISTA E O FADISTA
No dia 11 de Maio de 2012, Portugal ficou chocado com a trágica morte de Bernardo Sassetti, que caiu acidentalmente duma falésia enquanto se encontrava a praticar um dos seus hobbies preferidos, fotografia. O pianista tornou-se, na sua curta carreira (pouco mais de 25 anos), um dos mais proeminentes nomes do jazz nacional. O músico chegou a tocar ao lado de lendas vivas como o saxofonista Benny Golson ou no quinteto de Guy Parker, na década de 90. Teve ainda uma extensa discografia dedicada ao musicar a sétima arte. Serão muitos os discos de Sassetti (teria celebrado 50 anos em 2020) que poderíamos lembrar. Todavia, elegemos aquele que o terá aproximado mais do grande público, ao lado do sacrossanto Carlos do Carmo. Ambos surgem nesse álbum quase como punks janotas, a fazerem música por puro gozo de o fazer juntos. É um diálogo, que chega a ser comovente, de admiração mútua este disco, e também de admiração aos grandes autores da música portuguesa. Essas versões parecem mais apaixonadas, mais fogosas. As de Jacques Brel, “Quand On N’a Que L’Amour”, Léo Ferré, “Avec Le Temps”, e Violeta Parra, “Gracias La Vida”, são emotivamente mais distantes, mas talvez isso seja uma resposta também de amantes do nosso cancioneiro.
★

HASSELBERG TROUXE A PRIMAVERA
“Whatever It Is You’re Seeking Won’t Come In The Form You’re Expecting”. Lançado a meio do Outono de 2013, este álbum trouxe consigo uma Primavera prematura. Desde o calor das primeiras notas de saxofone de Ricardo Toscano, na introdução, e a leveza harmoniosa do trompete de Diogo Duque, em “In Cold Blood”. Trompetes e saxofones que conduzidos, muitas vezes, pelo piano de Luís Figueiredo e sob a liderança do contra-baixo de João Hasselberg, poderiam indiciar um disco de jazz, mas não é “exactamente” esse o caso. Na fusão estética que o jovem compositor português promoveu no seu álbum de estreia, o que acontece é que este é um daqueles trabalhos que, transcendendo tipologias ou linguagem, atingem uma musicalidade arrebatadora. Capaz de ser exuberante e minimal, complexo e simples. Este enigma é suportado pela bateria de Bruno Pedroso e as guitarras de Afonso Pais e João Firmino, os três nunca são “desnecessários”, sendo antes sublimes. E os momentos em que surge a voz de Joana Espadinha amolecem o coração mais endurecido. Logo em 2014, Hasselberg repetiria estes encantamentos noutro assombroso disco, “Truth Has Been Given In Riddles”, que funciona quase como um díptico. Foi nesse ano que o entrevistámos, no nosso saudoso “5º Andar”. Desde aí, Hasselberg gravou outros seis discos que deviam procurar conhecer.
★
O FÃ DOS QUEENS OF THE STONE AGE
Um dos maiores rostos da sua geração do jazz nacional, o André Fernandes entrou na nossa órbita quando o entrevistámos conjuntamente com a Academia de Guitarra (depois disso, já o entrevistámos muitas vezes). O guitarrista já tinha uma ampla discografia, que tem aumentado consideravelmente deste aí. A jóia da sua coroa, no entanto, é um álbum de 2014, onde reuniu e liderou de forma esplêndida um grupo extraordinário de músicos: “Wonder Wheel”. Os méritos de composição de André Fernandes, um dos melhores guitarristas nacionais, e a capacidade execução de cada um dos músicos que gravaram este disco, estão para lá de deslumbrantes. O guitarrista refere-se à criação do disco como a própria vida, «esta imagem de uma coisa sempre a andar à volta». E nessa roda-viva, quando perceberem que as, tão bem, enredadas estruturas e apontamentos melódicos não são pop, estarão a ouvir um deslumbrante álbum de jazz. Quando perceberem que estão presos no encanto das linhas vocais de Inês Sousa, estarão dentro de estruturas de fusão que chegam a ser “rockeiras”, devido à electricidade da execução de guitarra de André Fernandes, ao “peso” das baterias de Alexandrão Frazão e à condução a piano de Mário Laginha. Como âncora estética, sempre sóbrio, está o contrabaixo de Damien Cabaud. Quando perceberem que estão diante de um line-up estelar, saberão que estão a ouvir um dos melhores álbuns do jazz nacional. Da doçura romântica de “Wonder Wheel” que percorre o disco até ao final agridoce com “Lilac Wine”, passando pelas tempestades de energia que são “300 Pessoas” ou o final de “Canção nº3”, André Fernandes foi capaz de harmonizar elementos acústicos e eléctricos, passíveis de esquizofrenia, numa dinâmica saudável que discorre como a própria vida: em rotação ilusoriamente perpétua, até ao momento que cessa.
★
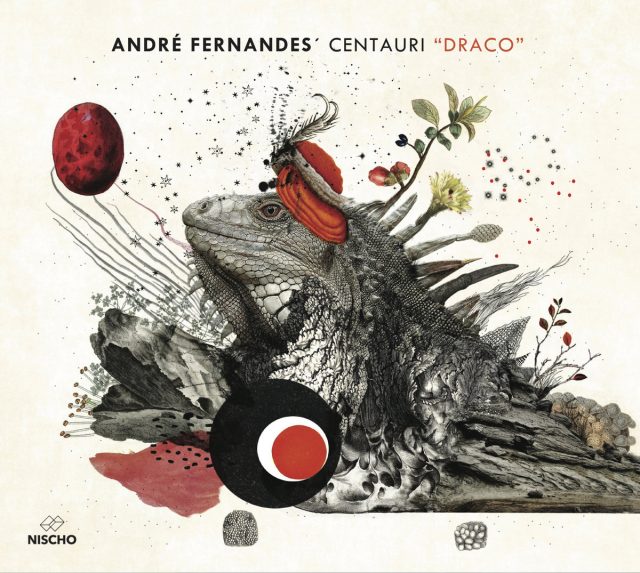
O DRAGÃO
Já em 2018, Fernandes criou outro projecto, os Centauri. No espectacular filme de John Boorman, “Excalibur”, Merlin descreve o Dragão a Artur. Uma besta imensa, de tremendo poder, que se fosse vista na sua totalidade, mesmo que num único vislumbre, nos reduziria a cinzas. «Está em todo o lado! É todas as coisas! As suas escamas reluzem nas cascas árvores, o seu rugido escuta-se no vento! E a sua língua bifurcada é como um relâmpago», assim diz o mitológico mago. Em “Draco”, o quinteto de músicos debruça-se sobre esse transcendente de onde brota a arte. André Fernandes, João Mortágua, José Pedro Coelho, Francisco Brito e João Pereira usam formas pilares do jazz e do rock para percorrerem trilhos de improvisação livres de barreiras. E se todos os músicos são estelares na sua performance, Fernandes apresenta-se discreto, apesar da sua autoria nas composições. São os saxofonistas, Mortágua (alto) e Coelho (tenor), que promovem as viagens astrais mais vibrantes e os momentos de maior fantasia enquanto percorremos este álbum dragão, numa viagem alimentada pela propulsão de Brito (contrabaixo) e Pereira (bateria), que em momentos como “Elon Musk Go”, nos finais de “3 Para 3” e de “Inhale” (aqui já com a soma de distorção na guitarra), e na retro rocker “Alpha”, chega mesmo a ser demolidora.
★
AGRADAR A GREGOS E A TROIANOS
Voltemos à ordem cronológica e a 2014. Falar da música de Pernadas não é tarefa fácil… O compositor poderá ser considerado um músico mais apaixonado por música que por si e que, partindo do jazz, foi capaz de desenvolver uma linguagem original (capacidade tão preciosa a meio da super abundância de bandas, projectos, discos, concertos ou festivais) e abrangente, sem exercícios de presunção ou “snobismo” musical. Compassos de absorção directa, leitmotivs de apreensão simples e o fascinante desenvolvimento instrumental, que surge em picos dinâmicos ou crescendos construídos camada a camada, foram presentes que Bruno Pernadas nos deu no seu fulgurante álbum de estreia, “How Can We Be Joyful in a World Full of Knowledge?”. Os seus temas possuem uma elasticidade tal que nos vemos embebidos num verdadeiro turbilhão de estilos musicais. Do jazz clássico ao pop, do afrobeat aos sons mais exóticos do oriente, um disco de Bruno Pernadas apresenta-se como uma tela em branco na qual todas as tonalidades de cores se tornam possíveis de coexistir. A festiva “Première” ou o épico trip hopesco “How Would I Be”, são momentos altos num disco que, de facto, ilustra essa ideia de canções capazes de agradar a gregos e a troianos.
★
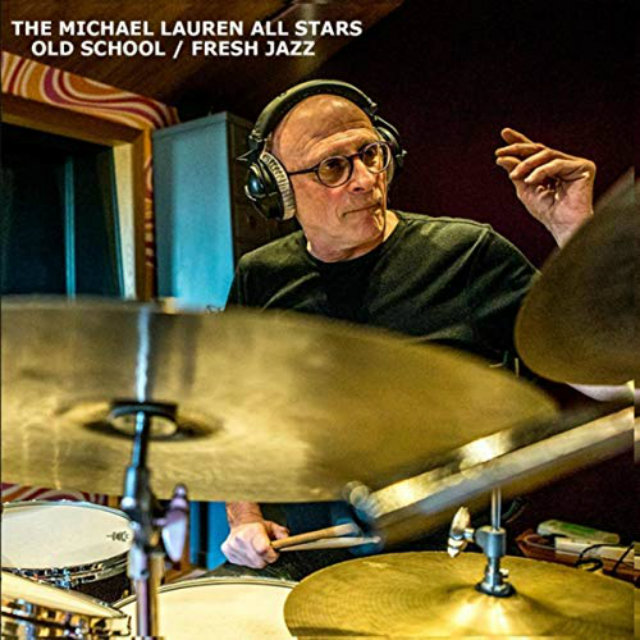
ALL STARS
Temos a sorte de poder listar um músico de elite mundial, como o baterista norte-americano Michael Lauren, que escolheu o nosso país para residir e trabalhar. Em 2015 criou os All Stars e o seu primeiro álbum, “Once Upon A Time In Portugal”. Em “Bonfim Blues”, original de Michael Lauren, ouvimos de forma bastante clara a generosidade desta lenda do jazz que, numa condução tão sólida quanto livre, se recosta numa execução subtil e aberta às manifestações de destreza de cada um dos músicos, individualmente e de todos no seu recruzar sónico. Aliás, exceptuando Carlos Barretto, cada um dos músicos possui uma composição sua aqui gravada. Mas apesar de Barretto não estar presente como autor, a sua prestação, com “Outras Viagens” como estandarte, é suficiente assinatura no disco. Depois, a ferocidade técnica dos All Stars nunca soa como exibição gratuita e circense, apresentando sempre um charme cujo zénite está registado na soberba “Seven Ties Corp.”, de Hugo Alves. A percorrer todo o álbum está aquela suavidade com que o grupo reunido por Michael Lauren, logo a abrir o disco, parece ilustrar “Minor Strain”, original de Bobby Timmons, como algo feito sem esforço. Mas transpor alma com tal coolness para a impulsividade excitante do lendário pianista nova-iorquino é coisa, de facto de All Stars. Hugo Alves (Trompete), Carlos Barretto (Contrabaixo), Jeffery Davis (Vibrafone), Nuno Ferreira (Guitarra), José Menezes (Saxofone) e Diogo Vida (Piano), soam portentosos a acompanhar a propulsividade poli-rítmica do baterista.
Depois, em 2018, chegou “Old School/Fresh Jazz”. E se o primeiro álbum dos All Stars é uma tremenda colecção de destreza técnica e charme cheio de coolness, este é ainda mais desafiante, mais arriscado, mais tudo. Um disco que inclui vários estilos e que mostra o estado eclético do jazz contemporâneo! Uma suma emocionante, acessível e didáctica, enraizada na melhor tradição do hard bop, tradição tão querida ao baterista que se fez português. «Com melodias fortes e solos concisos “Old School/Fresh Jazz” mistura peças mais longas com duetos que mostram a grande versatilidade de Lauren como baterista e exaltam os tremendos talentos que compõem os All Stars», diz João Moreira dos Santos (Antena 2). So true!
★

A CASA DO JAZZ
Foi em 2016 que o The Guardian elaborou uma lista que revelou ao mundo algo que qualquer amante de música no nosso país sabe (ou devia saber): o Hot Club foi eleito um dos melhores clubes de jazz europeus. Sendo um dos mais antigos clubes de jazz da Europa, o Hot Club foi fundado em 1948 e recebeu verdadeiras lendas, desde Count Basie a Sarah Vaughan, ao longo dos anos. Depois do incêndio em 2009, o Hot Club reiventou-se com nova casa graças especialmente ao apoio dos residentes e sócios do mítico local. Na mesma lista encontram-se o Harris Piano Bar (Cracóvia), Donau 115 (Berlim), Jazzhus Montmartre (Copenhaga), The Verdict (Brighton), Porgy and Bess (Vienna), Reduta (Praga), Sunset Sunside (Paris) e The Loft (Colónia).
★

O INTRUSO
Outro prolífico compositor e dentro duma linguagem mais suavizada para o grande público, Norberto Lobo tem criado discaços atrás de discaços. Não é exactamente jazz, mas também não deixa de o ser… Depois de “Fornalha” e de “Muxama”, de 2014 e 2016 respectivamente, já na editora suíça, em 2018, a guitarra de Norberto Lobo surgiu acompanhada por Yaw Tembe (trompete), Ricardo Jacinto (violoncelo) e Marco Franco (bateria). O som wacky da guitarra e a sua relação com o restante instrumental, e neste particular com o trompete, evoca a década de 50 do jazz, com a serenidade etérea da percussão, soando nefelibata, a servir de base a um cariz experimental bastante singular. “Estrela” discorre de modo tranquilo na sua totalidade, exceptuando a maior agitação de “Nariz” ou o frenesim quase cromático da curta “Escabeche De Ternura”. É um disco sem nenhum snobismo nas construções melódicas, com uma linguagem acessível, daí advindo a sua elegância.
★

HIERONYMUS BOSCH
“The Garden Of Earthly Delights” é uma obra notável criativa e instrumentalmente, onde coabitam o trompetista Oskar Stenmark e os saxofonistas Jeremy Powell e Eitan Gofman (naquela que é a face mais tradicional da linguagem jazz neste disco) com a alma rocker e explosiva que é imprimida no álbum pelo baterista Rodrigo Recabarren e o guitarrista André Matos. No meio de tudo, a sobriedade dos baixos do grande arquitecto, André Carvalho. É recorrente usar-se a expressão de que as palavras são insuficientes para descrever aquilo que se pretende. Poucas vezes isso é tão ajustado como no caso do extraordinário terceiro disco de André Carvalho. “The Garden Of Earthly Delights” é um titã conceptual inspirado no críptico e tríptico painel de Hieronymus Bosch, com o mesmo nome, que reside no Museu do Prado, em Madrid. A miríade de paisagens e detalhes musicais é arrebatadora e elegantemente fundida por luxuosas orquestrações, num crescendo de camadas, primeiro a cada música, e de intensidade, ao longo do disco. Um trabalho carregado de contrastes e de jogos dinâmicos soberbos, como em “Dracaena Draco”, em que a exuberância instrumental progressivamente se transforma num eloquente monólogo do baixo. Um álbum verdadeiramente notável.
★

TUBA GUITARRA BATERIA
É o mais recente e por isso o que está mais vincado na memória. “Red Manalishi”, logo a abrir o álbum, terá que ser o tema jazz mais pesadão de sempre. A guitarra de Mário Delgado, com slide e reverse delays, evoca a tundra norte-americana, mas quando a bateria de Alexandre Frazão e a tuba de Sérgio Carolino, frenéticas, se lhe juntam, emerge a sombra de John McLaughlin e da Mahavishnu Orchestra nuns épicos oito minutos de fusão. Gravado por Pedro Vidal nos estúdios de Vale de Lobos (misturado depois nos Auditiv), “III” é propulsivo, shredder e exótico. É surpreendente e divertido ouvir a forma como Carolino desdobra o seu instrumento para cumprir o papel de um baixo ou para conduzir melodicamente os temas e até a forma como soa pesada ou suave, simples ou extravagantemente multifónica. Se nem sempre o álbum é directo para o ouvinte, como sucede nesse tema de abertura, em “Flint”, “Sete Portas Mal Fechadas” ou “Knife To Meet You”, não deixa de ser entusiasmante de procurar desvendá-lo. A banda, nos momentos calmos como “Starless” ou nos explosivos como “Clockwork” (Mãe do Céu, Frazão!) revela um dinamismo e coesão super-humanos. Algo ainda em maior evidencia pela forma como o revestimento sonoro instrumental soa cru. O terceiro álbum do trio, obedece à sua sugestão de matemática mágica e roça a perfeição.
Enfrentamos tempos de incerteza e a imprensa não é excepção. Ainda mais a imprensa musical que, como tantos outros, vê o seu sector sofrer com a paralisação imposta pelas medidas de combate à pandemia. Uns são filhos e outros enteados. A AS não vai ter direito a um tostão dos infames 15 milhões de publicidade institucional. Também não nos sentimos confortáveis em pedir doações a quem nos lê. A forma de nos ajudarem é considerarem desbloquear os inibidores de publicidade no nosso website e, se gostam dos nossos conteúdos, comprarem um dos nossos exemplares impressos, através da nossa LOJA.



