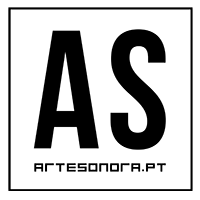1 // Jack White – Blunderbuss [Popstock]
White recorreu aos comparsas de The Racounteurs como base, especialmente o baterista Patrick Keeler e ao baixista Jack Lawrence, para garantir solidez na fusão entre o mundo da música popular norte-americana e um sentido vanguardista. Esse diálogo vai sendo feito entre nomes como Bryn Davies (contrabaixo e cellos) e Brooke Waggoner (órgão, Wurlitzer, Rhodes e pianos), estabelecidos e “bairristas” em Nashville, e Carla Azar, por exemplo, com uma carreira na bateria junto a nomes como PJ Harvey e John Parish. E “Blunderbuss” é um disco que pode ser tão aclamado em Nashville como em Manchester!
Ouvir os solos, com tiques de Frank Zappa, em “Weep Themselves to Sleep” e “I’m Shakin’” ou o riff com a força do rock clássico em “Sixteen Saltines”, provam White como um dos guitar heroes contemporâneos. A contemporaneidade permanece a grande arma do músico. A forma como sabe utilizar estruturas clássicas e modernizar-lhes o som (“Take Me with You When You Go” é uma demonstração espectacular disso), e mesmo a forma como detalhes de produção actualizam um tema simples como “On and On and On”, os cellos com linhas suaves e elegantes coloridos com o processamento ao som de piano mais os acréscimos de slide guitar.
“Blunderbuss” é um daqueles discos raros em que é congregado o sentido de rádio sem beliscar a pertinência musical. Este é um álbum que vai muito além de ser excêntrico e termina como um disco simples de ser ouvido. As pontas dos extremos são dobradas por White até se tocarem.

2 // Sigúr Rós – Valtari [Parlophone]
Os Sigur Rós são como uma obra intemporal, brilhante e fascinante no sentido em que a sua genialidade desperta-nos para a consciência de que, simplesmente, somos pequenos demais na imensidão do universo que se coloca em posição para sugar-nos até à última gota da nossa existência. A sua música é um verdadeiro apelo instrumental da linguagem emocional composta por matérias extraídas directamente do centro da terra em sons cristalinos, ambientes intuitivos e uma grandeza absoluta. É música tranquila, reservada e impossivelmente bela que faz da introspecção e quietação um estado de alma.
É como “Valtari”, o sexto disco de originais dos islandeses. É “Ég Anda” [trd. Eu Respiro] no retrato do lado mais profundo da condição humana, com a calmaria mortífera de “Ekki Múkk” [trd. Não é um Som] e a brisa gélida de “Dauðalogn” [trd. Calma de Morte] a percorrerem paisagens longínquas, ilustradas na imensidão de um sonho sem fim. É a banda sonora das imagens memoráveis de “Varðeldur” [trd. Fogueira], escondidas no sentimento mais obscuro e indecifrável de “Varúð” e o encanto superior de “Rembihnútur” [Nó Apertado] em perfeita comunhão. São os Sigur Rós e “Valtari”, que “rola” como uma obra intemporal, brilhante e fascinante no sentido em que a sua genialidade desperta-nos para a consciência de que, simplesmente, somos pequenos demais na imensidão de um disco assim.

3 // Rush – Clockwork Angels [Roadrunner]
Poderá arriscar-se dizer que Geddy Lee está a tocar muito neste álbum – é verdade que sempre foi um grande baixista, mas sempre pareceu ficar um pouco na sombra rítmica do imenso Neil Peart. Em “Clockwork Angels parece ressoar com muito mais dinâmica melódica, o que acrescenta muito detalhe ao som aberto da guitarra de Alex Lifeson (sempre muito adepto de acordes, para preencher bem harmonicamente o espaço musical dos temas), que no seu estilo de execução nunca teve pejo em demonstrar uma devoção pela escola de Pete Townshend. Só para acrescentar mais linhas à história da música sobre Neil Peart, é incrível como soa tão instintivo e descontraído na complexidade de fusão rítmica que promove, é como se soubesse matemática de uma forma tão inata como aquela com que um ser humano respira.
Há dois factores que marcam a contemporaneidade dos Rush: os apontamentos dos teclados são muito mais secundários que no som clássico da banda e a sonoridade ganha cada vez mais músculo, mérito da produção de Nick Raskulinecz. “Clockwork Angels” é um álbum conceptual, da maior banda do prog rock actual – os Dream Theater há muito perderam pertinência criativa, os Mastodon são uma “banda de estúdio” e aos Mars Volta falta ainda a inevitável passagem do tempo para polir as arestas das suas composições. Sem delírios melódicos e sem mutilação através de amarras de cálculos na procura de compassos extravagantes. “Clockwork Angels” é um álbum, perdoem o neologismo entusiasta, matemelódico!

4 // Lana Del Rey – Born To Die (Paradise Edition) [Universal]
A pele de diva parece-lhe servir ainda justinha, num tom sedutor e frio, um one night stand com a realidade, numa volúpia de honestidade até um clímax de vontade em repetir vezes sem conta a audição. Os singles já conhecidos e rodados quase em loop pelas tv´s e rádios já não são novidade, mas os restantes trazem e completam o ramalhete num álbum perfeito – que junta novos desesperos e velhos amores. A primeira tentação, ao pensar na reedição com o EP “Paradise”, era deduzir que Elizabeth Grant estaria a capitalizar o sucesso estrondoso de “Born To Die”. Possivelmente isso é verdade. A questão é que isso não significa em nenhum momento que Lana Del Rey faça qualquer compromisso na intensidade emocional que caracterizou o seu álbum de estreia. Em “Paradise” Lana Del Rey potencia ainda mais aquela imagem tipo da candura de Nancy Sinatra, mas afundada no mundo dos anti-depressivos ou capaz de dizer profanidades.
Desde o violento “Ride” [principalmente a versão longa do vídeo] que somos subjugados ao poder trágico e melancólico do lamento de Lana sobre as ruínas do american dream. As primeiras reacções dos media foram de repulsa à clara exposição da falha do feminismo numa sociedade aclamada como civilizada, liberal e moderna. É, contudo, a forma negra e fatalista como Lana retrata a “morte de Elvis” e pinta a bandeira norte-americana com listas de dor e sangue que torna fascinante o seu trabalho, até por no final encontrarmos ténues linhas de luz.

5 // Tame Impala – Lonerism [Modular Recordings]
É imenso o universo de Kevin Parker, de Sabbath a Bowie, com um sabor a “Sgt Peppers”, do stoner psicadélico ao pop rock de garagem. O próprio assume-se como um Todd Rundgren contemporâneo e prova-o de forma clara num tema como “Mind Mischief”. A tradição psicadélica dos anos 70 é notória através de todo o disco, desde a própria cadência e dinâmicas estruturais dos temas, até a detalhes de produção [como o uso de flangers a fazerem o disco ser percorrido por uma paisagem sonora cosmonáutica]. “Lonerism” é o futuro passado. Quando os dinossauros da história do rock caminharam na terra, a paisagem era mais exótica e rica. E, como um paleontólogo, Parker grava-nos um documentário, em jeito de tese, a ilustrar esse cenário. Num tema como “Why Won’t They Talk To Me?”, sentimo-nos como no meio de um delírio de fusão entre os solos de Rick Wakeman, nos concertos dos Yes, e a dream pop de algo como Beach House. Há sonhos que fazem sentido.
O único pecado deste álbum reside na bateria. Entre acústico e digital e o excesso de ideias há algum “desmazelo” – os padrões não soam trancados e com a força com que podia soar. Com excepção para o colossal “Elephant”, que poderia fazer parte da tracklist de “Master of Reality”! Ok, se fizerem o compromisso de imaginá-lo com beats electrónicos. Contudo, ouvimos um tema como “Keep On Lying”, com um solo tão George Harrison, e perdoamos qualquer coisa a Parker.

6 // Van Halen – A Different Kind Of Truth [Universal]
As expectativas sobre o álbum que demorou mais tempo a ser editado pelos Van Halen foram-se tornando colossais por diversos motivos. Sem “correr com o demónio”, mas com “um tipo diferente de verdade” para contar – afinal o próprio David Lee admitiu isso “todas as pessoas valorizam os seus privilégios, e este trabalho é um privilégio quando comparado com outros. (…) Por vezes levas um soco nos dentes e começas a aperceber-te que és mortal. Essa simples epifania pode reunir uma banda. Além disso fazemo-lo para garantir a paz mundial”, o vocalista acrescenta ainda que “a história dos Van Halen é incandescente e carregada de alegações – a maior parte verdadeiras – mas sempre levámos a música muito a sério. Fazemo-la quando somos chamados a isso”.
O maior receio seria que Eddie Van Halen não estivesse em forma, mas é algo infundado (basta ouvir o espantoso controlo de Whammy num tema como “Honeybabysweetiedoll” ou “The Trouble With Never”). Através duma fusão do som vintage da banda, da fase mais mainstream e mesmo dum sentido contemporâneo este é o álbum mais pesado da discografia da banda. Um sentido de enorme diferença reside no baixo – Wolfgang Van Halen tem linhas carregadas de virtuosismo e dinâmica, e é um justo herdeiro do nome Van Halen, mas não tranca os temas como Michael Anthony o fazia. Resumindo, não podia esperar-se agora a fúria da estreia, mas talvez seja o melhor álbum da banda desde “1984”.

7 // Melvins – Freak Puke [Ipecac]
Os arranjos de cordas extravagantes, do contrabaixo de Trevor Dunn, que abrem o disco em Mr. Rip Off”, que improvisam na curta “Inner Ear Rupture” ou se conjugam com o som “sabbathiano” dos Melvins em “Baby, Won’t You Weird Me Out”, fazem a banda soar nova, como uns Kronos Quartet sob a influência de ácidos. No final de “Worm Farm Waltz” parece quase estarmos a ouvir as madeiras serem pressionadas até partir!
O charme sonoro do disco, fornecido pelo baixo (especialmente nesses momentos tocado com arco), aumenta o sentido jazzístico da bateria de Dale Crover. A meio do álbum começa a ganhar, progressivamente, um sentido “roqueiro” mais clássico da banda. Esse cruzamento experimental com a solidez de um mestre de riffs, como King Buzzo, torna “Freak Puke” um dos álbuns do ano e os Melvins uma das raras bandas que a cada álbum consegue reinventar-se. E este já é o 18º! Movendo-se numa familiar estranheza, há ainda o bónus da versão a “Let Me Roll It”, de Paul McCartney no álbum de 1974 “Band on the Run”, o seu melhor pós The Beatles.

8 // Om – Advaitic Songs [Drag City]
Se o álbum “God Is Good” começou a mostrar uma coesão musical muito mais forte e uma direcção estética com estruturas mais objectivas, em detrimento de uma excentricidade experimental – muito devido à entrada de Emil Amos para a bateria -, esse processo só ficou plenificado agora. Al Cisneros parece surgir muito mais entrosado com a espiritualidade rítmica do antigo baterista dos Grails em vez de ter as suas composições coladas à nostalgia do trabalho com o seu antigo parceiro dos Sleep, Chris Hakius.
Há um preconceito em relação a termos como doom, sludge, stoner ou metal. Quando na verdade, o local onde mais tem sido venerado o culto psicadélico e experimental dos anos dourados do rock, os anos 70, é precisamente a partir dos géneros supra citados. E aqui muito do mérito é do pilar central da banda, o baixo de Cisneros – que é como um mandala sonoro a congregar a hermenêutica musical da banda. Outro factor de solidez a conquistar excentricidade é o maior envolvimento de Aubrey Lowe no desenvolvimento sonoro do álbum – os apontamentos com instrumentos como o violoncelo, a tambura e o preenchimento harmónico da sintetização é muito mais direcionado e muito mais presente nas estruturas musicais. No final este é um disco tão acessível quanto impenetrável.

9 // Bruce Springsteen – Wrecking Ball [Universal]
“Wrecking Ball” torna a colocar Bruce Springsteen ao lado das desfavorecidas classes operárias numa altura de crise económica global – contudo duvido que alguma agência de rating ponderasse dar uma nota que fosse algo menos que Aaa. Este disco é um manifesto em tom pessimista e acusatório às harpias da economia, com letras em que Bruce Springsteen uma vez mais se coloca ao lado das classes em dificuldades, com a curiosidade de que agora – como sucedeu na América da Grande Depressão – não é só o operário que surge em dificuldades, mas também o executivo. Um novo personagem nos dramas de Sprinsgteen. Apesar do pessimismo, o patriotismo e fé no american dream pontuam o final do disco, com “Land Of Hope And Dreams”.
As composições de “Wrecking Ball” tornam-se surpreendentes em muitos dos arranjos escolhidos, por serem absoluta novidade ou por se aproximarem duma era em que foram experimentados e tiveram muito pouco sucesso. Mantém incursões em territórios familiares, com temas como “We Take Care Of Our Own” ou “You’ve Got It” dentro daquele rock emotivo típico de “Born To Run” ou “Born In The U.S.A.” ao qual foi acrescentado, principalmente a partir de “The Rising”, uma nova revisão folk – que aqui até vai mesmo ao extremo de se colar a “Ring Of Fire”, de Johnny Cash, em “We Are Alive”. E surpreende no recurso a motivos eletrónicos. Temas como “Jack Of All Trades” e “Rocky Ground” fazem-nos lembrar do ambiente de “Streets Of Philadelphia” e das incertezas que o compositor patenteou na era “Human Touch/Lucky Town”, sem nos deixar ter a certeza se estamos a gostar dos arranjos de bateria eletrónica ou a estranhá-los.

10 // Beach House – Bloom [Sub Pop]
4 álbuns em 6 anos é um intervalo de tempo bastante curto. Nestes casos surge a hipótese das Bodas de Canaã – na maioria das vezes o vinho bom já foi bebido e serve-se o vinho mau, pois, ébrios da festa, os convidados não serão propensos a queixar-se, mas por vezes sucede o fantástico e o vinho melhor é servido no final. A dupla, Victoria Legrand e Alex Scally, conseguiu fazer da água vinho. “Bloom” parece fazer florescer ainda mais o sentido etéreo da discografia da banda. O álbum consolida o crescimento que o disco anterior, junto da produção de Chris Coady, havia anunciado. A suavidade e gentileza com que os temas decorrem na audição fazem voar a hora de audição, parecendo que estamos diante de um álbum curto na sua cronometragem quando, de facto, estamos perdidos naquele estado doce em que o tempo parece não passar. Talvez este disco careça de alguns ganchos melódicos, quando comparado com os três anteriores, mas isso ao invés de diminuir o álbum dá-lhe uma dimensão mais completa.
A impressão dinâmica é como um entardecer primaveril, amena e colorida. A dupla aqui transgride o termo indie e aproxima-se do psicadelismo dos anos 70. Só os convidados desatentos ou os mais ébrios não perceberão que este é o vinho novo.