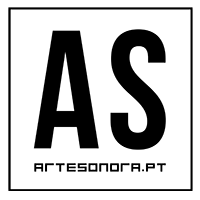Casper Clausen, a face mais visível e voz dos Efterklang, em entrevista à AS para falar do novíssimo “Wildflowers” e os seus paradoxos, das «cenas maradas» que a banda gravou num estúdio na ilha de Møn, na terra-natal Dinamarca, e do Sol de Lisboa, onde começaram a surgir as primeiras ideias para o sexto longa-duração do trio do qual também fazem parte Mads Brauer e Rasmus Stolberg.
Uma manhã como tantas outras em Lisboa, com muito Sol. O ponto de encontro era o mercado de Arroios. E à hora marcada chegava, de bicicleta, um sorridente e afável Casper Clausen, nitidamente feliz por estar, uma vez mais, a aproveitar a luz boa da capital portuguesa. O motivo do encontro? O novo disco dos Efterklang, “Wildflowers”, o sexto LP da banda dinamarquesa, que recentemente assinou com a alemã City Slang após três álbuns com carimbo da britânica 4AD.
Acabado de chegar dos Açores e do festival Tremor, para onde viajara dias antes com o seu disco a solo, “Better Way”, Casper Clausen não esconde o entusiasmo do momento. Não é para menos. «Cada novo álbum dos Efterklang é, para mim, um novo capítulo. Estamos muito entusiasmados. Este disco é mesmo muito bom e foi feito a partir de um monte de ideias que conseguimos resumir ao essencial e, quando o ouço, sinto que é um dos nossos melhores discos. As canções têm qualidade», diz-nos ele, antes de levar à boca o primeiro café do dia.
Feito de momentos luminosos e esperançosos e de outros um pouco mais introspectivos e profundos, “Wildflowers” encerra em si uma certa mudança na estética dos Efterklang. Há reverb, pois claro que há, ou não fosse a palavra Efterklang sinónimo de reverberação, mas também há mais sintetizadores (muito OB-6 e Arturia MiniFreak) e ainda mais camadas de vozes (a culpa é do vocoder).
Mantêm-se no entanto as opções não tão convencionais, como o som de garrafas (não é uma estreia para eles), o som das pás de um moinho de vento ou dos passos na neve. Já a narrativa, sublinha Casper, não poderia deixar de ser o produto de um período de reflexão, de uma observação interior e da tentativa de lidar com a ansiedade e o medo.
Construído entre Cacilhas e Copenhaga, o novo disco dos Efterklang reflecte, essencialmente, uma banda de três grandes amigos que ainda procuram escrever o seu melhor disco, 21 anos depois de Casper Clausen abandonar a escola e mudar-se para Copenhaga em busca do sonho.
Este novo álbum tem um ambiente um pouco mais synth pop, ligeiramente diferente do resto da discografia dos Efterklang. A alteração estética foi algo pensado?
Não, foi uma coisa natural. Queríamos divertir-nos a fazer música, de uma forma simples. Tentámos não pensar muito e quisemos simplesmente deixar as coisas fluírem. Por isso, a opção por ter mais sintetizadores e beats foi bastante natural. Basicamente, quando gostávamos de um beat, da vibração de determinados acordes ou de melodias, apenas deixávamos correr. Eu estava em Lisboa e Mads [Brauer, responsável pela electrónica da banda] estava em Copenhaga. Todos os dias abria a Dropbox e tinha um ficheiro novo para trabalhar, para gravar vozes por cima de uma parte ou algo assim. Foi um processo de pingue-pongue e nunca fizemos tanta música como para este álbum. Deixámos bastantes coisas de fora, de facto. A reciclagem do meu computador ficou cheia [risos]. Não sei se algum dia usaremos o que deixámos de fora, porque são mesmo muitas ideias. Algumas delas usei para as minhas cenas a solo, porque não funcionavam em Efterklang. Foi tentar abrir a mente e pensar que tudo é possível. Essa foi a ideia para este disco.
Nas letras de “Wildflowers”, exploras temas como a mudança ou a esperança. Sentiste-te compelido a abordar e a reflectir sobre estas temáticas por vivermos um momento meio estranho a nível global?
Julgo que sim. Vivemos tempos que nos obrigam, de facto, a reflectir muito. Durante a pandemia, foi natural para mim começar a olhar para dentro, em vez de observar e falar sobre o que vejo, que era o que fazia antes. Nunca estive três meses seguidos fechado em casa. Ando sempre de um lado para o outro e foi tudo um bocado estranho. Mas aconteceu a toda a gente, não é? Mesmo para aqueles que estão sempre fechados em casa, este ano e meio foi estranho. Ficou claro para mim que a ansiedade ou o medo são coisas minhas, interiores, não têm que ver com mais ninguém. Se não conseguir lidar com os meus problemas, ninguém vai conseguir. Foi um momento profundo. Em todo esse processo, bateu-me que tenho estes dois amigos que conheço desde os 16 anos e com quem faço música, tenho uma história gigante com eles e cada vez que os encontro sinto-me seguro, sinto-me em casa. Conheço-os muito bem, são os meus amigos mais antigos. Estas reflexões começaram a fazer parte do processo do disco.
É por isso que o disco tem dois ambientes distintos? Um mais luminoso e dançável e outro mais introspectivo?
Sim, é verdade, tem dois ambientes diferentes. Tem um lado mais introvertido e outro mais extrovertido. Honestamente, não pensámos nisso quando estávamos a compor. Apenas fizemos todas estas canções e no final escolhemos as que gostávamos mais e colocámo-las todas juntas.
E voltaste a cantar em inglês.
Sim, uma vez mais foi uma coisa natural. O disco anterior [“Altid Sammen”, 2019] foi em dinamarquês, uma experiência completamente diferente. Mas, na minha cabeça, e sou um optimista, acho que toda a gente compreende [risos]. É como o português, mesmo que não se perceba as palavras, há a voz, o som das palavras. Ouvia Sigur Rós e cenas do género, soa-me incrível e não percebo uma única palavra. O som é universal e isso é que conta. Mas a questão é que tenho escrito tanto em inglês que nem pensei. Não é uma coisa de sempre, mas nos últimos anos comecei a interessar-me muito mais por palavras, por letras de músicas, comecei a ler poesia, a prestar atenção ao que as pessoas cantam, que era uma coisa que não fazia. Se gostar da vibração ou da voz, vou gostar, e não importa se percebo a língua. Tenho aprendido muito com Laurie Anderson, Bill Callahan, pessoas maravilhosas a transformarem coisas em palavras. Foi algo que comecei a gostar, assim como de escrever, pensar em palavras e pô-las em música. Pensei que inglês poderia ser fixe para este disco, porque é a língua mais falada em todo o mundo, toda a gente compreende e é a que falo mais na minha vida. Além de que vivo fora da Dinamarca há 10 anos, falo dinamarquês apenas com a minha família e com Mads e Rasmus [Stolberg, baixo]. Acho que se cantasse na minha língua, os dinamarqueses iriam pensar: «Mas quem é este que fala dinamarquês de forma tão estranha?» [risos] Acho que já nem sequer sei falar dinamarquês em condições. Eu sonho em inglês, penso em inglês e expresso-me em inglês. Não sou um especialista em palavras difíceis, mas o inglês é-me muito natural, é fácil e confortável.
Sempre gostámos de gravar cenas maradas e de experimentar muito. É daí que venho. Para mim tudo isso é muito divertido
Onde é que os Efterklang passaram este último ano e meio?
Em Junho de 2020 fomos para um estúdio na ilha de Møn [Dinamarca] e depois, ao longo do ano, fomos lá mais umas cinco ou seis vezes, uma das quais por duas semanas. Foi lá que fizemos grande parte do disco. Foi muito bom estarmos juntos e completamente concentrados nas músicas. Mas as ideias começaram a surgir no meu estúdio em Almada e, em simultâneo, em Copenhaga, no estúdio de Mads.
Quais foram as coisas mais estranhas que gravaram na ilha de Møn?
Encontrámos umas garrafas, gostámos muito de garrafas [risos]. Diferentes tons de garrafas. O estúdio é tipo uma quinta no meio do nada, com espaço para ficarmos, por isso, acordávamos e começávamos logo a trabalhar. Gravei umas vozes no jardim, gravámos o som da neve a cair, os nossos passos na neve… Havia também um moinho de vento, a partir do qual é gerada a electricidade para a quinta, e pusemos um microfone de contacto e captámos o som das pás do moinho, gravámos também o som das ondas do mar, que fica muito perto da quinta. Não faltam coisas malucas neste disco.
Se tivesses de escolher um instrumento ou equipamento como representativo deste álbum, qual seria?
O vocoder, definitivamente. Foi a primeira vez que usámos na banda. Os nossos temas têm sempre efeitos na voz, mas sempre efeitos que destacam a voz humana. Há algumas canções que, nas camadas, têm vozes meio alienígenas, por causa do vocoder, coisas que me fazem lembrar os Mogwai e outras cenas de rock alternativo. Não é tanto como Daft Punk, em que o vocoder é usado in your face, mas optámos por aplicar o efeito nas camadas de voz complementares, como se fosse um personagem por detrás da minha voz e da dos restantes membros da banda. Queríamos uma cor diferente nas vozes e o vocoder tem a característica de parecer algo trazido do espaço. Misturámos muito essa vertente electrónica e sintetizada com o piano, o que traz dois tipos de sons ao disco. Também gravei baterias em alguns temas. Há uns anos tocava bateria sempre, depois parei, mas adoro tocar, foi o meu primeiro instrumento. Adoro estúdios que têm tudo; guitarras, banjos, chimes, garrafas [risos], adoro experimentar. Este estúdio é mesmo grande e então tínhamos tudo montado, pudemos fazer bastantes experiências em todas as canções. Era só carregar no rec e tocar. No início dos anos 2000 tínhamos um estúdio em Copenhaga e era assim, tinha lá tudo, um monte de sintetizadores, um vibrafone, Fender Rhodes, kits de bateria… Gravávamos cenas na casa de banho! Na altura ouvíamos muito Einstürzende Neubauten e então tínhamos ideias meio malucas. Tínhamos um piano todo estragado, no qual gravámos trompetes, captando o som entre o tampo do piano e as teclas. Sempre gostámos de gravar cenas maradas e experimentar muito em estúdio. É daí que venho. Para mim tudo isso é muito divertido.
Ainda sinto hoje, depois de seis álbuns, que ainda não fizemos o nosso melhor disco. E isso é espectacular!
Este disco tem muitos sintetizadores. Quais os brinquedos que mais usaram?
Neste disco voltámos um pouco às nossas raízes. É um álbum perfeitamente tocável ao vivo. O Mads tem usado muito o Dave Smith OB-6 e o Novation Bass Station II Analog Monosynth. Gosto muito, porque por vezes têm notas que parecem meio desafinadas. É um som mais dreamy, mais etéreo, nada terreno. Também utilizámos muito o MicroFreak [Arturia], uma cena muito engraçada. Usámos muitos brinquedos. Há muitas coisas de que nem me lembro, porque o estúdio é muito 80’s, tem muito equipamento, muita cena MIDI. O dono do estúdio é um gear nerd, tem cenas que não eram usadas há anos, mas que nós explorámos e gravámos. Foi muito fixe!
“Piramida”, de 2012, foi muito bem recebido, Portugal incluído, mas este novo disco tem pouco que ver com essa fase da banda. Em que sítio estão agora os Efterklang?
Sim, estamos muito diferentes e estou curioso para ver as reacções do público e dos fãs. Cada novo álbum dos Efterklang é, para mim, um novo capítulo. Ainda sinto hoje, depois de seis álbuns, que ainda não fizemos o nosso melhor disco. E isso é espectacular. Mantém a motivação, o foco. Já começámos a falar sobre o próximo álbum, sobre que ideias explorar. Estamos muito entusiasmados. Mas este novo álbum é mesmo muito bom e foi feito a partir de um monte de ideias que conseguimos resumir ao essencial e, quando o ouço, sinto que é um dos nossos melhores discos. As canções têm qualidade. Posso dizer-te que para o “Piramida” tínhamos um quarto das ideias que tínhamos para este. A experiência foi mais cara, mas valeu bem a pena. Tem momentos mais experimentais, o que adoro, e adorava que os Efterklang fossem mais nessa direcção.
Dizes que as coisas mudaram muito nos últimos 20 anos, mas ainda sentes a mesma motivação do início?
Agora é um pouco diferente, estamos em sítios diferentes, estamos mais velhos, há bebés a caminho, estamos envolvidos em mais projectos. No meu caso, acabei de editar um álbum a solo [“Better Way”, 2021]. Estamos a viver outra vida. Mas é óptimo perceber que, quando estamos juntos, seja a tocar, a compor, a beber uma cerveja ou a cozinhar, é sempre a mesma coisa, nada mudou desde o início da banda. Apenas não estamos juntos todos os dias como estávamos antes. Já somos uma banda antiga e é difícil manter as coisas vivas, renovar as coisas, encontrar a essência do primeiro disco, o porquê de nos termos juntado. Não quero dizer que tenhamos de fazer o mesmo tipo de música que fizemos no início, mas ainda há a energia, a fonte, a razão pela qual começámos a fazer música juntos. A cena é encontrar sempre essa energia para continuar a fazer música, para continuarmos entusiasmados com a banda, para sabermos para onde queremos ir. Mas também olhar para dentro e compreender-nos mutuamente. É música, são sentimentos! Temos de estar abertos e despertos para as emoções.
O meu estúdio cá é idílico. Acordar, olhar em frente, ver água, a ponte, a cidade ao fundo… e começar a compor
Estiveste recentemente nos Açores a promover o teu álbum a solo. Queres contar-nos como foi essa experiência?
Adoro o festival Tremor, foi a minha quarta vez lá e é um dos meus festivais favoritos no mundo inteiro. É incrível estares no meio do Oceano Atlântico e haver um festival de música que acontece em lugares estranhos. Quando tocas no Tremor afastas tudo o que é normal num festival e até a audiência se comporta de forma diferente. É realmente refrescante. Desta vez tocámos num pinhal e foi magnífico. No ano passado, em Outubro, estive um mês na ilha das Flores e os Açores são de facto um sítio especial para mim. Poder tocar nos Açores é um privilégio.
Ainda tens as tuas coisas em Lisboa?
Claro que sim. [risos] Não tenho apartamento, mas tenho tudo cá. Ainda não sei onde as vou arrumar. Tenho estado em Bruxelas nos últimos tempos, e também gosto, mas hei-de voltar sempre a Portugal. Não sei se para viver cá, mas que voltarei, isso é certo. Morei cinco anos no Bairro Alto e se regressar tenho de experimentar outras zonas da cidade. Neste momento, tenho estado na casa de um amigo em Campo de Ourique e é diferente, bem mais calmo do que o Bairro Alto.
De que forma estares em Portugal afecta a tua criação artística?
Afecta muito. Todos os lugares nos influenciam, é inevitável. Mas a vibração desta cidade [Lisboa] é incrível. O meu estúdio cá é em frente ao rio [bairro do Olho de Boi, junto a Cacilhas]. É idílico. Acordar, olhar em frente, ver água, a ponte, a cidade ao fundo… e começar a trabalhar. É muito inspirador. Um privilégio. O lugar é de um amigo [o artista plástico Rui Soares Costa], que me deixou à vontade para ficar o tempo que quiser. Estou cá. Estou sempre cá, mesmo que não esteja. Portugal está em mim. Tenho muitos amigos cá e tudo isso tem muita influência em mim. Meu, sou da Escandinávia! A mentalidade é diferente, o sol… o sol! A minha pele sente-se bem quando cá estou. O meu corpo quer ir para outros lugares, sou assim desde miúdo, adoro viajar, mas a minha cabeça diz-me sempre para estar por perto.
Achas que essa apetência e gosto por nunca estares no mesmo sítio se deve a não quereres ter amarras?
Talvez, julgo que sim. Tenho pensado nisso, por acaso. Venho de um lar seguro, tranquilo, os meus pais ainda vivem juntos e na mesma casa. Mas assim que cheguei à adolescência só queria ir embora dali, explorar novos sítios. Desisti da escola e a primeira paragem foi em Copenhaga, a maior cidade da Dinamarca. Fui para lá com os meus amigos da banda, banda que ainda tenho… Mas sempre fui fascinado por aeroportos e estações de comboios e sinto-me confortável sempre que chego a um sítio novo. Gosto da novidade das coisas. E, ao longo da jornada, fiz muitos amigos, tenho uma espécie de escala em Lisboa, Copenhaga, Bruxelas, Berlim, Paris e nos EUA. É fantástico, mas pode ser complicado para quem quiser manter um relacionamento. É difícil manter compromissos com pessoas, manter plantas ou animais quando estamos sempre a viajar. Mas encontrei um bom punhado de gente com quem posso partilhar alguns momentos da vida. Sou um privilegiado.