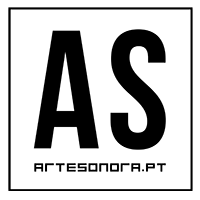Prestes a comemorar 20 anos de carreira, os Norton, sempre de olhos postos no que aí vem, falam à AS sobre a novidade nos processos do mais recente “Heavy Light”, da angústia causada pela pandemia e dos sonhos que ainda os fazem correr para a sala de ensaios.
No dia em que ligámos aos Norton – via Zoom -, eles estavam concentrados num retiro em Sever do Vouga, onde montaram um estúdio portátil numa habitação de turismo rural com o fito de compor o sucessor de “Heavy Light”, um disco adiado pela pandemia, mas que ainda assim o quarteto de Castelo Branco não deixou de editar… numa altura em que o mundo ainda estava (mais) do avesso.
Apesar de ainda não terem partilhado ao vivo o sexto álbum tanto quanto gostariam, Pedro Afonso (voz, guitarra, teclados), Rodolfo Matos (bateria), Leonel Soares (baixo e teclados) e Manuel Simões (guitarra) não são de perder tempo e, a poucos meses de completarem 20 anos de carreira, fintam a distância geográfica e tentam recuperar o tempo perdido no último ano e meio.
«Estas experiências são muito boas para a camaradagem, é muito mais do que música. Como estamos separados geograficamente, pois todos vivemos em sítios diferentes, estes encontros são óptimos para matar saudades, estarmos juntos e aproveitamos para fazer música nova», explica o baterista Rodolfo Matos.
Mais preocupados com o futuro do que propriamente agarrados ao passado, os Norton ainda sonham acordados. Pisar pela primeira vez o palco de Paredes de Coura, fazer mais colaborações com outros artistas – algo que estão a apostar forte, como foi o caso de uma reimaginação recente do tema “Young Blood” com Filipa Leão -, ou a composição de uma banda sonora para um filme são alguns dos muitos planos de uma banda que mantém a pica da adolescência.
Em entrevista à AS, os Norton falam do passado, mas principalmente do presente e do futuro. Falam do não tão convencional (para eles) processo de gravação de “Heavy Light”, do equipamento utilizado, dos truques com reverbs e teclados e de marcos como o que eternizaram a 2 de Julho de 2021 com o lançamento de uma remistura feita por Peter Kember/Sonic Boom [“Galaxies – New Atlantis”], antigo elemento de bandas como Spacemen 3 e Spectrum e produtor de nomes como MGMT, Beach House ou Panda Bear.
E a satisfação dos quatro é bem visível quando lhes perguntamos sobre os próximos concertos. «Estamos entusiasmados. Não temos concertos há algum tempo, como toda a gente, de resto, e este disco merece mesmo ir para a estrada». Se os quiserem ver em cima de um palco, os Norton vão andar pelo Fundão (8 de Outubro no Sons à Sexta), Lisboa (13 de Outubro no Teatro Maria Matos) e Porto (14 de Outubro no Auditório CCOP).
Se nos dissessem, em 1997, que o Sonic Bloom ia remisturar um tema nosso não iríamos acreditar
Estão quase a comemorar 20 anos de carreira. Têm algo preparado para assinalar a data?
Nada disso. Não fazemos 20 anos! Somos uma banda emergente, novos talentos, nova geração da música portuguesa para sempre [risos]. Não, agora a sério, não temos nada pensado. Fizemos um espectáculo de aniversário dos 15 anos em Castelo Branco e foi a única vez que fizemos algo do género. Não somos muito de festejar essas efemérides. É um número muito pesado. Vinte anos é muito tempo! Acho que nos faz olhar para trás e gostamos mais de olhar para a frente e pensar no que é que ainda podemos vir a fazer. Mas claro que é bom saber que estamos cá há 20 anos, sempre juntos, é quase como um statement.
O que é que ainda não fizeram, mas que gostariam de ter feito nestas duas décadas de banda?
Olha, por exemplo, tocar em Paredes de Coura [risos]. Há muita coisa que gostaríamos de ter feito, tocar numa série de festivais onde nunca tocámos. Não interessa as razões por que nunca aconteceu, nem nós sabemos quais são. Mas adiante. Gostávamos de fazer uma banda sonora para um filme. Já fizemos um tema para um filme e gostámos bastante da experiência. É interessante. Também queremos tocar lá fora em sítios que nunca tocámos. Há sempre coisas e passos que qualquer banda sonha dar. Por exemplo, editámos este novo disco em cassete, que é algo que nunca tínhamos feito. Recentemente, saiu uma remistura feita por Peter Kember/Sonic Boom. Se nos dissessem, em 1997, que o Sonic Bloom ia remisturar um tema nosso não iríamos acreditar. Isso foi mais um sonho que acabou por acontecer. Às vezes, as coisas pequeninas acabam por ser mais importantes e ter mais significado. É mais um check na nossa lista imaginária de coisas por fazer. Mas o principal é mesmo estarmos juntos e fazer música em conjunto. Tudo o que venha daí é sempre bem-vindo. Mas obviamente que temos o sonho de tocar em determinados festivais e salas, tanto em Portugal como no estrangeiro. Também gostávamos de fazer algumas colaborações, que é uma coisa que fizemos muito no início, depois deixámos de fazer e agora estamos a apostar nisso outra vez. Fizemos recentemente com a Filipa Leão [ex-Jaguar] uma nova versão da “Young Blood” (Daylight). Estamos a voltar a apontar para aí, para as colaborações. Temos feito mais rework, mas o próximo passo é fazer mais coisas de raiz.
Melhor e pior momento nestes 20 anos?
O pior é fácil de lembrar, foi quando perdemos o Carlos [Nunes], o nosso guitarrista. [A morte de um elemento] é a coisa mais dura que pode acontecer a qualquer banda. O melhor momento? Tanta coisa… cada disco que editámos ou a tour no Japão.
Ainda editam no Japão?
Este disco, não. A indústria no Japão mudou muito nos últimos três, quatro anos. Viraram-se mais para dentro. Só mesmo as bandas maiores é que conseguem licenciar os discos para lá. Tocámos lá com bandas que eram pequeninas, muito pouco conhecidas, e que agora são gigantes. Nota-se bem que o mercado virou-se para dentro, apostaram muito nas bandas japonesas. A música de fora entra na mesma, mas a maioria do público interessa-se mais pela música nacional. E a indústria foi atrás disso. Era o que precisávamos que acontecesse aqui. Portanto, este disco não conseguimos editar no Japão, mas criámos laços que mantemos e que vão durar para sempre.
Se pudessem puxar a fita atrás, teriam feito alguma coisa de forma diferente?
É natural pensar-se que se poderia ter feito diferente, assim como é natural cometer erros ao longo do percurso, faz parte do crescimento. Acho que agora temos outra maturidade e encaramos os desafios de outra forma, mais consciente. A perspectiva é completamente diferente. E, depois, há a indústria e o mercado em si, sempre em mutação. O que era fixe ou cool as bandas fazerem nos anos 1990, já não é nos dias que correm. Mas isso também é fixe, sobretudo para as bandas com mais anos, que têm de se adaptar ao momento e à evolução das coisas.
Mas a pica mantém-se…
Claro, caso contrário não estaríamos aqui a fazer música nova.
Os vossos processos de composição, de trabalho, alteraram-se muito ao longo do tempo?
Sim, foram mudando com o tempo. No início, éramos adolescentes e vivíamos todos em Castelo Branco. Íamos para a sala de ensaios fazer jams e, de disco para disco, as coisas têm mudado. Os retiros que fazemos antes de cada álbum servem precisamente para reaprender esses mesmos processos em conjunto. São, normalmente, os pontos de partida para os discos. Actualmente, o que fazemos, além das jams que fazemos sempre antes de cada disco, e que normalmente rendem duas ou três canções, é trocar ficheiros entre nós. Fazemos muito mais demos dos temas. No disco de 2014 [homónimo], fizemos uma coisa que nunca tínhamos feito que foi a pré-produção em estúdio. Tínhamos instrumentais feitos, gravámos os temas em take directo durante dois dias e depois fizemos os arranjos por cima. Na altura, não tínhamos os meios técnicos para o fazer em casa e por isso fomos a estúdio.
O Deluxe Memory Man da Electro-Harmonix, juntamente com um Vox Valve Tone, dá um timbre à guitarra muito característico
Vocês gostam de brincar com os temas em ambiente de computador?
Cada vez mais temos vontade de ter ainda mais botões para rodar, isso faz muita diferença. Mas não deixa de ser fixe, já que se consegue ter uma noção mais rápida do que é que a canção pode vir a ser. Mas ainda temos a vibração de fazer o instrumental, a cena de compor um tema que, quando sai numa hora entre os quatro, parece que temos a excitação dos 16 anos de idade. Sentir a vibração dos instrumentos e dos amplificadores a tocar alto é inigualável. Só te apetece estar horas a tocar! Isso é único, não se consegue replicar no computador, não tem a mesma adrenalina que se tem ao tocar a canção em ambiente de banda. Infelizmente, cada vez menos conseguimos ter isso, mas tentámos sempre ao máximo chegar a esses momentos. Temos criado alternativas para poder compor e isso reflecte-se no investimento que temos feito em termos de material. A nossa sala de ensaios tem cada vez menos espaço! Temos comprado muita coisa. Pode ser um microfone, uma placa, uma mesa, mais um pedal… [risos]. Há sempre frescura quando tens material novo, canções novas e isso passa para fora.
O que é que nunca pode faltar num disco dos Norton?
Inicialmente, tínhamos sintetizadores que faziam parte do nosso som, como um órgão Elka que usámos bastante nos primeiros discos. O problema é que aquilo é gigante, andávamos com aquilo na estrada e acabámos por fazer um sample. Até há bem pouco tempo era o Line 6 DL4, mas também usámos muito o Nord Lead 2, o Moog e um pedal que temos desde 2011, o Electro-Harmonix Holy Stain, em que usámos o reverb praticamente sempre. Nos últimos dois discos, temos usado de forma inteligente os reverbs, especialmente nas vozes e guitarras de “Heavy Light”. Na guitarra do Pedro há um tom muito específico desse pedal que dá um timbre muito único ao som. Temos feito esse trabalho de descobrir os reverbs e usá-los de forma estratégica. O Manuel [Simões, guitarrista], tem um Deluxe Memory Man da Electro-Harmonix, o modelo mais antigo, que utiliza juntamente com um pedal, o Vox Valve Tone, que dá um timbre à guitarra muito característico e que ele tem usado nos últimos discos e funciona muito bem.
Foi muito bom estarmos todos a tocar na mesma sala, lareira acesa e copo de vinho na mão…
O processo de gravação de “Heavy Light” foi muito diferente do dos restantes discos. Contem-nos como foi.
Primeiro, gravámos dois temas completos no Namouche – “Changes” e “Passengers” – e misturámos no Golden Pony Studios. Quanto ao resto do disco, as baterias foram gravadas no Bela-Flor Recording Studios, em Lisboa, e o resto em Mértola, na quinta do Eduardo Vinhas. Quando estávamos a decidir que equipamento levar para Mértola, o Eduardo foi muito prático e optou pela LaunchBox de prés da API e dois prés da Neve, e foi por aí que passaram todos os instrumentos. Com esse material, não havia por que enganar. E essas máquinas ajudaram bastante no som final do disco. Depois, ainda acabámos por ter de gravar duas vozes no Bela-Flor, mas sim, foi a primeira vez que gravámos em vários sítios, tudo estúdios novos para nós. Adorámos a experiência de tirar o peso de estar sempre no mesmo estúdio durante uma série de dias. O facto de não haver régie e sala de captação, mas antes um só espaço, foi muito positivo. Foi muito bom estarmos todos a tocar na mesma sala, lareira acesa e copo de vinho na mão… Aliás, há uma música qualquer em que se ouve o crepitar das brasas. Nem quisemos tirar isso para ser mais real.
O estúdio tradicional nem sempre é amigo da criação…
Às vezes, o formato tradicional de estúdio cria um certo peso. Não queríamos o stresse de apanhar o metro, ou o táxi, andar no meio do trânsito, não queríamos nada disso. Foi um luxo, porque nem sempre se consegue ter o espaço e as agendas de toda a gente organizadas nesse sentido. Felizmente, conseguimos e ficámos muito contentes com o resultado final. Saímos da nossa zona de conforto, porque íamos sempre para o mesmo estúdio desde o início da banda.
Mas acabou por ser uma péssima altura para se editar discos…
Sim, foi péssimo, tivemos de adiar o lançamento. O disco ia sair dia 13 de Março e o confinamento começou a 15 ou 16. Tínhamos uma tour marcada, enfim. Foi muito difícil. Adiámos sem nova data prevista. Mas foi muito triste ter a sala de ensaios cheia de discos e cassetes nas caixas… ter a tour preparada, os ensaios feitos e, de repente, termos de ficar fechados em casa. Foi mau para toda a gente! Depois decidimos lançar em Julho, mal começou a abrir. Num ano normal, jamais lançaríamos um disco em Julho, no meio do Verão, com os festivais todos a acontecerem. Mas já era indiferente, seria sempre um tiro no escuro. Ainda conseguimos apresentar em Castelo Branco e em Coimbra e em Outubro fomos a Valencia, em Espanha. Agora, temos concertos em Lisboa, Porto e Fundão, entre outras coisas em perspectiva.
Tínhamos acabado de assinar contrato com uma agência em Espanha e de repente Espanha ficou pior do que Portugal
Consideram que foi um desperdício?
Sim. Sem dúvida. Tudo bem que o disco saiu, as pessoas ouviram, compraram, mas sim, foi desperdício, principalmente por não podermos tocar ao vivo algo que tínhamos acabado de lançar. Adoramos tocar ao vivo e estávamos mega excitados para ir para o palco. Agora já relativizamos a situação, mas foi um investimento brutal, ainda mais para uma banda como nós, que faz tudo com os seus próprios meios. Foi investimento monetário, de tempo, trabalho… Não fomos os únicos, mas só nós é que sabemos o que nos doeu. Além de que tínhamos acabado de assinar contrato com uma agência em Espanha e estávamos a preparar uma tour lá, tínhamos a promoção a decorrer e de repente Espanha ficou pior do que Portugal. Sentimos também que entretanto o próprio país está a dar prioridade às bandas nacionais, o que se percebe. Tal como está acontecer aqui. Mas pronto, o acordo não caiu, mas as datas de promoção e concertos que estavam marcados caíram.
Sentem que o tempo de vida do disco se esfumou?
O tempo de vida de um disco já é normalmente curto, mas agora a situação agravou-se. O disco é novo, não rodou ao vivo, mas já é do ano passado… Ainda queremos tocar muito este disco ao vivo!
Li algures que vocês dizem que este disco tem canções que iluminam o coração. Ficaram mais moles com o tempo?
[risos] Se estamos mais fofinhos? [risos] Houve uma preocupação em, liricamente, escrevermos algo que fosse mais fácil de as pessoas se identificarem. Tentar ser um pouco mais autobiográfico. A preocupação veio de escrever coisas com o coração. Pensar no dia-a-dia, escrever sobre isso e sobre os sentimentos que nos surgem diariamente, a forma como vemos as coisas, o futuro, etc. Por exemplo, há uma canção, “1997”, que remete para essa década e para a forma como fazíamos música nessa altura. Sonicamente, é uma viagem à nossa adolescência e às nossas bandas da altura e, em termos de letra, tem que ver com a nossa adolescência em Castelo Branco, a forma como vivíamos e saíamos à noite. As letras deste disco vão sempre buscar momentos muito nossos.
Qual é a principal mensagem ou o conceito por detrás deste “Heavy Light”?
Uma das coisas com que nos preocupámos relativamente ao conceito do disco foi, naturalmente, o nome, que está directamente ligado a uma ideia que surgiu quando iniciámos o processo de composição e andávamos à procura da mensagem ou do conceito. Em primeiro lugar, percebemos que queríamos mesmo editar em formato físico; somos altamente românticos e conservadores no que diz respeito à música enquanto arte. Depois, ao pensarmos no grafismo, o Rodolfo mandou-nos um print de um post do Instagram de uma designer espanhola com uma frase que o pai dela lhe tinha dito. A frase fazia sentido com uma outra que já fazia parte de uma letra de uma canção nossa das novas e pensámos nela como tema para o disco. A frase dizia qualquer coisa como “um dia, as pessoas vão sentir falta do peso das coisas, o peso de ter um jornal na mão, de folhear um livro…”. Nós puxámos para o nosso lado, para o peso de ter um vinil ou um CD na mão. Para nós, uma edição apenas em digital é um disco que, para a nossa geração, não existe, são ficheiros. Numa das trocas de e-mails, o Pedro escreveu em letras garrafais: “Heavy Light”. E assim escolhemos o nome do disco.