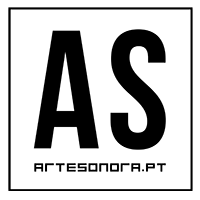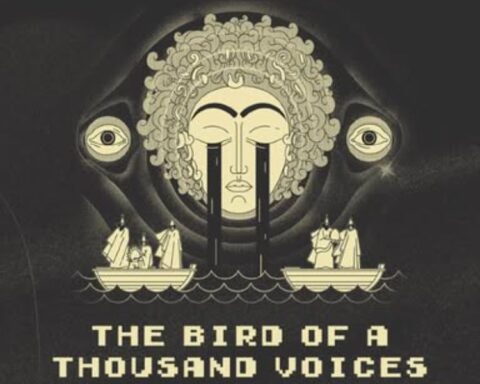Um dos discaços portugueses da última década (de sempre), o homónimo álbum de estreia dos Orelha Negra. Sam The Kid, Francisco Rebelo e Fred contam como construíram o tremendo som deste fantástico álbum.
Um dos projectos mais surpreendentes que surgiram na última década no nosso país. Sam The Kid, DJ Cruzfader, João Gomes, Francisco Rebelo e Fred são os senhores do groove que pauta este trabalho inovador. Inovações a partir de bases que são filtradas por uma “Orelha Negra”. O álbum de estreia surgiu a 22 de Março de 2010 e deixou meio país de boca aberta. Há dez anos atrás, a Arte Sonora conversou com Sam The Kid, Francisco Rebelo e Fred Ferreira sobre os desafios de fazer um álbum que começou por surgir meio anónimo.
Na capa do disco a identidade dos músicos era escondida. A intenção era que as pessoas não validassem o disco em função de quem estava envolvido. «Os “Disc Faces” apareceram numa brincadeira qualquer que vimos na net e a que achámos piada. Fomos juntando umas capas e, de repente, começámos a pensar mesmo na capa do disco. Sabíamos todos, logicamente, que o anonimato iria durar dois ou três dias», confessava Francisco Rebelo, explicando a física e a filosofia: «Lá dentro, quando desdobras, cada faixa tem uma capa específica. De certa forma, fomos repescar um conceito um bocadinho perdido do poster. E isso foi muito engraçado, porque muitas pessoas, no Facebook, mandaram-nos imagens em casa e, no YouTube, gajos a meterem músicas, ‘Epá, tenho aqui o poster’. Desde puto, gosto de estar a ouvir a música e a ver a capa do disco. Cada música, mesmo com a mesma capa, cria uma cena diferente. E isso era uma ideia que gramávamos que a nossa música pudesse transmitir».
A verdade é que entre hip hop, soul, rock e samples, do anonimato, surgiu um dos projectos com mais personalidade e maior vigor criativo de sempre na música nacional. Recordamos uma entrevista, originalmente publicada na AS#17 (se gostavam de ter a edição física para colecção, mandem-nos um mail e veremos o que se arranja), na qual os três músicos falam sobre como construíram o tremendo som deste fantástico álbum.
Lia, na net, algo como isto: já não há originalidade na arte, resta, a quem faz música, procurar entregar com autenticidade aquilo que acolheu. É daqui que parte uma ideia como Orelha Negra?
Sam The Kid: Sim, com certeza. Já ninguém vai inventar a roda, a roda já foi feita, mas acho que a nossa cena não deixa de ter essa identidade própria, nem que seja através de pormenores. Se quiseres comparar com outros projectos, podes comparar. Por exemplo, o meu pai, sendo uma pessoa que não ouve muito este tipo de projectos, mostrou-me um vídeo de The Avalanches e disse-me: «Olha, os Orelha Negra da Austrália». Cada um pode fazer as comparações que quiser e pensar que já tudo está feito e que aqueles são os Orelha Negra australianos, apesar de já existirem há mais tempo, ou que nós somos os The Avalanches “tuga”. Quando lançámos o primeiro single, “Lord”, ouvimos referências desde Amy Winehouse, “Pulp Fiction”… É normal! As pessoas podem pensar que isto é uma coisa que já foi feita, mas na realidade não foi porque nós ainda não a fizemos [risos].
Fred: Não foi um princípio, irmos fazer uma coisa que nunca ninguém fez. Simplesmente, pensámos em juntar-nos os cinco para fazer música, o que por si só já é novidade, porque nunca o tínhamos feito assim. Já tocámos, juntos, as músicas do Samuel. Os cinco, sozinhos, não. Essa é a novidade.
Sam: Isso é que é importante para nós… Tentar fazer uma cena que seja nova para nós. Claro que nós todos temos influências, mas como temos tantas influências tão diferentes – ele vai a sítios a que eu não vou, eu vou a sítios a que ele não vai – acaba por ficar uma cena nova, única.
Falando de influências, o álbum soa muito Motown….
Fred: É, talvez, o ponto comum, a coisa em que estamos lá todos. Mas também nem pensámos muito nisso.
Sam: Até há “samples” concretamente da Motown. Mas se puseres o som da Motown e o da Orelha Negra ao lado, não é a mesma coisa, não há um cantor sequer. Mas é uma referência válida, como muitas outras são. O nosso símbolo é baseado numa editora que é a Stax, é quase rival da Motown.
Francisco Rebelo: As cenas são um bocado naturais porque respiramos um bocado essas cenas todas há muitos anos. Ouvimos música há muito tempo, acompanhamos carreiras e temos uma vivência grande e forte dentro daquilo que é o universo musical, de comprar discos, de saber das bandas… A nossa vida é um bocado isso! Para além de sermos músicos, vivemos essa cena com alguma intensidade e há muitas coisas que já estão no nosso subconsciente, um gajo já nem pensa. Provavelmente, muitas pessoas dizem: «Aquele gajo tem uma onda soul». É natural, ouço muito aquele tipo de cena, mas também toco rock e toco cenas com distorção. Se calhar, isso surpreende muitas pessoas que dizem: «Não te estava a ver tocar com aquele som». Não estavas porque nunca viste, mas agora, se calhar, já viste!
Sam: Uma das cenas que nos agrada nesse tipo de som é a própria estética das misturas. No meu caso, se eu vou “samplar” uma cena que já está misturada com essa sonoridade estou completamente descansado. Agora, quando ele [Fred] toca a bateria – principalmente ele – é a pessoa com quem fico mais preocupado, que fique uma sonoridade demasiado “clean”, muito limpinha…
A música está a completar outro ciclo. Tivemos os anos 70, começamos a chegar às grandes produções das bandas de rock, depois veio o punk, nos anos 80 chega a sintetização e vamos outra vez para as grandes produções. Agora está-se outra vez em busca do vintage…
Francisco: As estéticas ou os nichos arrancam sempre de uma espécie de submundo. Meio underground, meio da cave. Depois já sobe para o clube e depois vai para os grandes palcos, para os festivais. Se fores ver desde a electrónica dos Kraftwerk, que tocavam em clubezitos com umas indumentárias metálicas todas mal feitas, até chegar onde chegou; a Björk tocava num clubezinho de jazz, na Islândia, e acabou a fazer as “mega cenas” que faz. Isto é um bocado cíclico e há uma necessidade de renovar e o que está lá em baixo vai subindo e o que está em cima cai. É um bocado esta energia ou sinergia. E depois, às vezes, as coisas misturam-se umas com as outras… Haja “pica” para fazer música!
Já estavam a decorrer as gravações e o Nelson Carvalho ainda não estava a perceber a cena, dizia: «’Tá-se bem, mas não estou a perceber nada! Não sei o que é isto».
O trabalho do Nelson Carvalho está num registo de super produção quase, tudo ali limpinho, e vocês aparecem com outra abordagem. Trabalhar com ele foi uma escolha unânime?
Sam: A escolha foi a partir do Fred e, realmente, o Nelson avisou logo que não estava habituado a trabalhar com este tipo de projectos e até achou demasiado interessante pelo aspecto de nunca ter feito uma coisa assim. E acho que ficou na memória dele, não é um projecto qualquer.
Fred: Lembro-me que já estavam a decorrer as gravações e ele ainda não estava a perceber, dizia: «’Tá-se bem, mas não estou a perceber nada! Não sei o que é isto». A grande cena do Nelson é que ele é muito bom a captar o que queres que seja captado. Se lhe explicares, ele vai captar-te da melhor forma o universo que queres.
Francisco: O Nelson esteve a ouvir tudo e teve a virtude para entender qual era o nosso imaginário. Tivemos a preocupação, quando nos conhecemos e nos encontrámos para fazer este trabalho, de explicar qual era o contexto da cena e, para ele, imagino que algumas coisas foram estranhas. Temos samples que foram extraídos do YouTube ou de cassetes – há cenas que são de cassetes vídeo – e, portanto, o som não é o melhor. Mas depende um bocado da forma como vês a música e como entendes aquilo que é o conceito da banda. No nosso caso, não fazia sentido nenhum que aqueles samples tivessem mau som e pedíssemos a pessoas para regravar. Não tinha muito a ver e ele entendeu isso.
No registo final ainda acabou por ficar uma mistura ou outra do Zé Nando. O que motivou essa decisão?
Francisco: Ficou o “Lord”. Teve que ver com o método de trabalho. Quando decidimos gravar o disco, não tínhamos ainda a certeza de qual seria o melhor método para trabalharmos, porque nunca tínhamos feito um disco nestes termos. A primeira abordagem foi gravar no nosso estúdio e tentar perceber que problemáticas é que poderíamos ter no futuro para gravar um álbum inteiro.” Se aquele seria o método ou não. Na altura, acabámos por entregar as gravações ao Zé Nando para misturar. Só que o Zé Nando está no Porto e a comunicação era sempre por e-mail e quando tens de dar o remate final é difícil. Foi nessa altura que se falou com o Nelson e decidimos ir gravar as bases fundamentais em Paço d’Arcos. Daí para a frente, voltámos para o nosso estúdio, onde gravámos tudo o resto.
CRAZY TRAIN
Dá a sensação de que houve uma profundidade de produção tremenda de forma a encaixar loops e samples com a bateria, para tornar o tema funcional a nível de composição…
Francisco: Aquilo que tornou a cena trabalhosa, por um lado e fácil por outro, foi não querermos nunca ter tido aquela abordagem de o Fred a tocar bateria e nós a editar e colar com os samples. O que queríamos era tocar, verdadeiramente, por cima dos samples a partir de uma cena apenas manipulada em termos de equalizações, compressões… Não queríamos entrar no facilitismo de o Samuel surgir com uma sequência, colocá-la no Pro Tools, depois meter-se a bateria e eu a seguir colocar o baixo. O disco foi todo feito, construído, numa base de banda com temas estruturados. Deve ter havido um ou dois temas que, depois de tudo gravado, reestruturámos ou pusemos mais um refrão.
Sam: Só o Cruz não gravou connosco. Em termos de scratch ele gravou muita coisa a posteriori.
Francisco: É um bocadinho mais complicado porque os scratchs, têm de estar nos pitchs correctos e numa sessão de estúdio à primeira, às vezes, aquilo não sai logo. Aí preferimos, depois de ter o tema pronto, ele tocar à vontade do que estar a gravar sem ensaio prévio.
Os samples vocais que existem fazem-me pensar se foi um trabalho de procura premeditado ou algo espontâneo. Quero dizer, acordaram a pensar na “Cura” com a voz do Ozzy, por exemplo?
Sam: Esse é um caso específico. Quando os temas nascem das minhas ideias e já tenha essas ferramentas, eles é que juntam as coisas. Neste caso concreto, como há outros (o “Futurama”, o “Saudade”), são temas que nascem deles e a que, depois, acrescento ferramentas vocais. No caso d’ “A Cura”, gostava muito das partes A, mas o refrão ainda não me batia. Foi uma música que nasceu espontaneamente e é uma variação de uma cover da “Saudade”, do Marcelo Camelo. Depois de “A Cura” estar gravada, a música surgia com uma distorção forte, estava a precisar de usar acapellas e é claro que aquilo estava a puxar para a cena mais “rockeira”. Já foi mais para o fim, o reportório já estava todo feito e as vozes puxavam mais para a cena do soul, foi fixe para equilibrar o álbum. Aconteceu! Adoro essa cena. É magia, quando acontece. Experimentei outros. Também experimentei Axl Rose, não calhou bem, e o Ozzy Osbourne calhou mesmo bacano!
Um gajo estava de mansinho, depois aparece o Ozzy!
Francisco: É das tais cenas… Não foi pensado, mas saiu uma malha de rock. Gravei esse tema com dois amps de baixo, com distorções diferentes, logo à bruta. Quando voltámos para o nosso estúdio, ainda somei mais dois baixos, com mais distorção e mais três guitarras. Tem uma carga “bué” grande! E, quando o Samuel meteu o Ozzy, aquilo ainda pediu mais. Um gajo estava de mansinho, depois aparece o Ozzy [risos]!
Sam: Por acaso, nem acho esse tema totalmente rock. O que me agradava antes de o refrão ter as vozes eram as outras partes. A parte que está do riff principal parecia um beat que The Neptunes fariam para o Justin Timberlake… Juro! Podia ser perfeitamente, tás a ver? É muito funky, no refrão é que fica rock.
Fred: Nisso o álbum até foi um pouco transversal. Não foi só para a rapaziada do hip hop. Há malta que gosta mais de rock e me deu os parabéns, pessoal que gosta mais de outro género de música… Até aí foi bem conseguido. Não que tenhamos pensado nisso dessa forma.
Francisco: Costumo dizer que a nossa cena é hip hop na forma, mas não é só isso. Na essência, tem mais coisas. Depois é uma questão de um gajo ter os ouvidos abertos e de querer experimentar.
45 ROTAÇÕES
Houve algo específico, em termos de ferramentas, que tenham usado neste trabalho?
Francisco: Usámos aquilo que normalmente usamos. Neste disco, arrisquei um bocado mais do que aquilo que faço noutros projectos, mas acho que aqui também tinha espaço para isso. No caso do baixo, fiz algumas experiências engraçadas – essa de que te falei, “A Cura”, tem dois baixos diferentes, um Fender e um Hofner, três pedais de distorção diferentes. Também toquei guitarra, o que é novidade para mim, excepto com Sam The Kid em que faço algumas, mas também experimentei cenas que, se calhar, para muita gente não eram novidade nenhuma, mas para mim foram um bocado. Misturas de pedais de efeitos, algumas vezes sou eu a tocar e o Samuel a mexer nos botões. Também fiz alguns overdubs de baixo, que são cenas difíceis de conciliar em disco e que sabes que, ao vivo, não podes reproduzir. Enfim gravar cenas fora de fase, cenas assim…
Fred: Gravei com a bateria principal – uma Gretsch-American Custom, uma boa bateria.
Pelo som, as medidas da bateria não parecem ser muito grandes…
Fred: Já tive um bombo 24’’, agora tenho três – um de 22’’ e dois de 20’’, um mais comprido e um mais pequeno. Cheguei à conclusão que no de 24’’ (já nem tenho essa bateria), o som que conseguimos sacar daquilo, hoje em dia, consegue-se num estúdio e se a bateria for boa. Esta tem umas medidas pequenas, mas tem um som inacreditável para o tamanho das peças. A única coisa que fiz foi escolher uns pratos específicos – os Zildjian Constantinople – e mudar as peles para umas vintage, da Remo, uma reedição que eles fizeram.
Francisco: No “Futurama” também fizemos algumas experiências engraçadas, dobraste os timbalões…
Fred: Faço muitas vezes isso. No nosso disco não, mas já fiz essa experiência, e resulta muito bem, de gravar peles e pratos em separado. Parece um bocado estranho mas, se souberes exactamente o pattern que vais fazer, gravas só os pratos e depois gravas as outras peças à parte, porque dá para manipular muito melhor o som.
Francisco: Foi muito fixe, neste projecto, ter o espaço para poder fazer este tipo de experiências que numa banda mais convencional, por vezes, não é possível. Aqui, como não tens voz, tens um espaço muito grande para gerir. O João, nesse tema, também usa um talkbox no teclado, que não é uma cena muito recorrente.
Fizemos o vinil duplo em 45 rotações, porque a espira é mais larga. Quando o vinil tem a espira muito apertada, ficas com uma espécie de largura de banda muito curta e os graves são penalizados.
A masterização foi uma recomendação do Nelson? O Andy VanDette tem feito muitos trabalhos dele…
Fred: Sim. Não tínhamos pensado ainda muito nisso.
Francisco: Não acredito que a masterização faça milagres. Se a mistura não estiver a soar bem, a masterização não vai soar bem. Para nós, o importante era que o disco, antes de estar masterizado, estivesse a soar fixe. A masterização, nesta etapa, serve apenas para alinhar o disco e impedir que as pessoas se levantem da cadeira para subir ou baixar. Não é preciso fazer mais nada. As pessoas pensam que, com misturas todas maradas, a masterização vai salvar aquilo. Em alguns casos desenrasca, mas nunca salva.
Não houve nenhum trabalho específico na gravação e masterização [tamanho de compressão, frequências], tendo em conta que o trabalho também foi editado em vinil?
Francisco: Há, de facto, quem recomende, no caso da masterização, um trabalho diferente de vinil para CD. Gravámos o disco a 24 bit/44Khz, uma resolução baixa, não há necessidade de fazer maior. O que fizemos depois foi, na escolha do tipo de vinil, o disco em 45 rotações, ou seja, acaba por ser um LP duplo. Isto porquê? A espira é mais larga – a espira do vinil não é mais do que uma representação analógica de uma forma de onda, uma wave que temos no computador. Quando o vinil tem a espira muito apertada, ficas com uma espécie de largura de banda muito curta e os graves são penalizados. Se carregas num grave – e era para isso que serviam essas correcções da masterização – a agulha salta. Nos maxi ou nos 45 a espira é mais larga, logo a representação da onda é maior. E por isso, no vinil duplo, consegues pôr o álbum inteiro em dois discos com a espira larga a 45, logo o som é muito mais fixe. Mas não fizemos nenhuma masterização necessária para isso. Hoje em dia, as fábricas fazem essa correcção.