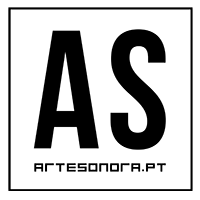Num cartaz repleto de nomes no feminino, nas primeiras duas noites tiveram em destaque três deles. Lana Del Rey e PJ Harvey tiveram concertos e públicos bastante distintos, enquanto Mitski fez o papel de Sísifo.
O Primavera Sound Porto arrancou no Parque da Cidade da invicta no dia 6 de Junho e destacou nesse dia, como no restante cartaz, uma forte presença da música feita com a mulher no papel principal. Foi logo assim na primeira noite, com PJ Harvey e Mitski a dividirem focos maiores no Palco Porto e no Palco Vodafone, respectivamente, e inevitavelmente na segunda, em que Lana Del Rey agendou uma coroação perante 40 mil pessoas na maior enchente de sempre do festival.
Lana Del Rey
Disse John Lennon em 1966, que os Beatles eram mais populares do que Jesus. Avistadas no público pelo menos duas bandeiras que colocam o rosto de Lana Del Rey no corpo do profeta, e dada a peregrinação de fãs que se concentraram à porta do recinto logo de madrugada, essa afirmação controversa volta à tona. Foi ambiciosa a decisão de colocar neste Primavera Sound Porto uma das artistas que maiores legiões de fãs movimenta, obrigando a novas estratégias para mover o público dentro e fora do recinto, mesmo que este teimasse a concentrar-se junto do Palco Porto onde a artista norte-americana acabou por dar o seu concerto no segundo dia do festival, arrancando com “apenas” dez minutos de atraso.
Moverá Lana Del Rey tanto povo quanto se apregoa? Assim é o mundo pop, onde uma só celebridade assume o papel divino e responde pelos seus versos como se de versículos se tratassem. Logo em “Without You”, tema que serviu para fazer surgir Elizabeth Grant diante de 40 mil pessoas, entoa-se «I even think I found God / In the flashbulbs of the pretty cameras». Telemóveis ao alto para poucas vezes se baixarem: assim começou o espectáculo musical quase digno de Broadway da cantora norte-americana.
Com direito a um cenário idílico, Lana Del Rey contou com bailarinas que muitas vezes a acompanharam e ladearam, mas também foi atração a pole dance para dar algumas pitadas de sensualidade. Do alto de uma varanda, Lana Del Rey deixou os fãs cantar todos os versos de “West Coast” e assumiu o microfone apenas no primeiro e único refrão, antes de cortar caminho para “Doin’ Time”, tema de Sublime revitalizado na sua voz. “Summertime Sadness”, trunfo talvez jogado demasiado cedo no alinhamento, voltou a “Born To Die”, disco que colocou a artista debaixo dos holofotes em 2012, antes da única passagem por “Lust For Life” feita ao sabor de “Cherry”. «Estou muito feliz por estar aqui», rematou numa das primeiras vezes que se dirigiu ao público no Porto, que reconhece a artista no papel que a própria assume.
Existe uma falsa saudade da América “clássica” (com muitas aspas) em Lana Del Rey, a personagem e não a artista. Estão presentes todos os traços da construção de uma persona que simboliza tudo aquilo que se quiser: os anos 50, as palhinhas mergulhadas em milkshakes, as longas estradas desertas percorridas de mota, a brisa suave de um verão quente, os vestidos esvoaçantes em Venice Beach, as guitarras pautadas pelo twang da country, a ganga azul de James Dean, os óculos vermelhos em forma de coração a la Lolita e até os cigarros, apesar de não serem fumados. Os lábios dizem-se ter o gosto a baunilha. No fundo uma amálgama de uma América que não só não existe, como nunca existiu – pelo menos na combinação de todos estes valores. Lana Del Rey não é, portanto, apenas o papel da ‘atriz’ Lizzy Grant, mas sim todo um franchise que se estende ao público. E a sua emancipação, que aqui tantas vezes se mistura com uma aparente fragilidade, fica patente em músicas como “Pretty When You Cry” e “Ride”.
A escadaria lateral do palco serviu para Lana Del Rey descer ao público, onde cantou “Born to Die” e distribuiu autógrafos e cumprimentos, mesmo que uma fã tivesse saltado a barreira e tentado aproximar-se do Sol qual Ícaro que viu as suas asas a serem rompidas por um segurança. “Creio que ela seja louca!”, disse Lana com algum humor à mistura e desvalorizando prontamente o incidente. Em interlúdio prosseguiu a romaria, antes de se cantar “Bartender” e de se ter sorvido o primeiro sabor de “Norman Fucking Rockwell!”, disco que apresentou em Portugal na anterior passagem pelo Super Bock Super Rock em 2019, intercalado com faixas dos recentes “Chemtrails Over The Country Club” (precisamente a faixa-título) e “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd” (“The Grants” e a faixa homónima), este o pretexto da digressão que a trouxe ao Porto.
A extensa versão de “Video Games”, uma das faixas mais antecipadas do concerto, colocou à prova as vozes dos muitos milhares de fãs na que foi a maior enchente de sempre do festival, evidente com recurso ao ‘olhómetro’. Muitas das vezes pouco ou nada da Lana Del Rey se ouvia, ora por imposição do coro fanático, ora porque a sua voz ao vivo não acompanha os talentos gravados em estúdio. As coristas de palco chegaram a tomar as rédeas e pareceu existir menos consolação feita em backtracks: ideia que morreu em “Hope Is A Dangerous Thing For A Woman Like Me To Have – But I Have It”, em que o pianista musicou, com algumas notas ao lado, um holograma de Lana Del Rey com a sua voz gravada. Enquanto isso, a cantora trocou de roupa e surgiu para “A&W”.
Para terminar, “Young and Beautiful” trouxe dois significados: o primeiro, mais óbvio, de que a juventude e a beleza são eternas e que se pode estar apreensivo sobre a durabilidade do amor; o segundo, sacado entrelinhas, é de que esta faixa da banda sonora de “The Great Gatsby”, filme de Baz Luhrmann de 2013, nos remonta novamente para a teatralidade da personagem que é Lana Del Rey. Existe na audiência definitivamente muito apreço, manifestado com algum histerismo, e parece ser correspondido nas palavras da artista, referindo-se ao Porto como «a cidade mais bonita». Mas como qualquer guião dramático, musical ou religioso, a crença fica para quem lhe deposita a fé.
[Não foi permitido à Arte Sonora fazer a habitual reportagem fotográfica]

PJ Harvey
Seria praticamente impossível não comparar esta passagem pelo Primavera Sound Porto com a anterior, em 2016. Na altura, Polly Jean agarrou todo o anfiteatro do agora chamado Palco Vodafone quando este era o maior espaço para concertos do festival: vestida de negro, qual cisne do lago, agitou águas de saxofone ao peito na apresentação de “The Hope Six Demolition Project”. Essas canções tinham uma intenção e um peso político que se poderiam perfeitamente adequar ao contexto bélico em zonas de conflito nos dias que correm. Mas desta vez a artista britânica não subiu a palco para falar sobre a esperança e a união das comunidades: “I Inside the Old Year Dying”, disco que apresentou no Primavera Sound Porto, é um registo quasi-pastoral e que brada às crenças individuais sobre temas como o amor e o significado da vida.
PJ Harvey surgiu neste Palco Porto onde actuou, espaço introduzido na edição de 2023 do festival, com uma missão contrastante. Vestida de branco, carregou a luz com um quê de ocultismo nas primeiras três faixas, assumindo uma postura enigmática nas palavras de “Prayer at the Gate”, “The Nether-Edge” ou “A Child’s Question, August”, intercaladas com três faixas de “Let England Shake”, disco de 2011 que tem envelhecido muito bem e que brilha cada vez mais no meio de uma carreira cheia de referências. Mas também foi aí que alguns problemas recorrentes começaram, entre uma guitarra que teimava a não dar som e exigiu uma longa introdução para “The Glorious Land”, assim como as tímidas palmas arrancadas durante “The Words That Maketh Murder”. Foi também nesta que se entoou «what if I take my problem to the United Nations?», questão que não passou despercebida nas primeiras filas e elevou mais vozes do público.
“Send His Love To Me” foi o primeiro vislumbre da década que situou Polly Jean no mapa da música, seguindo-se “50ft Queenie” para lembrar que ainda ali mora uma voz aguerrida e não-conformada. Endeusada pelas suas próprias palavras, desceu aos seus cúmplices para “Black Hearted Love”, tema escrito com John Parish que, por sua vez, faz parte da formação ao vivo, tal como Jean-Marc Butty, James Johnston e Giovanni Ferrario. O seu trabalho mais fantasmagórico, “Is This Desire?”, foi recordado através das marcantes teclas de “Angelene” e ainda por “The Garden”, antes de nova incursão ao seu passado mais longínquo.
“De Rid Of Me” ainda se pôde ver e ouvir “Man-Size”, embora desta vez sem dedicatória para o produtor Steve Albini (em Barcelona fê-lo com “The Desperate Kingdom of Love”, também presente no alinhamento do Porto), enquanto a estreia Dry foi recuperada ao som de “Dress”. O concerto não podia acabar sem dois passos de gigante: a linha de baixo viciosa de “Down by the Water” e, claro, a guitarra igualmente memorável para o estrondo melancólico de “To Bring You My Love”. PJ Harvey, debaixo de ovação, apresentou a banda e fez agradecimentos finais, desculpando-se novamente pelos problemas técnicos relacionados com a sua guitarra. Ninguém a condenaria de maneira nenhuma, mesmo que o vasto campo deste ainda novo Palco Porto não permitisse uma experiência tão imersiva quanto aquela de 2016.
Fotos: Teresa Mesquita / Arte Sonora
Mitski
Volvidos sete anos desde a sua estreia em Portugal, que passou algo despercebida na altura, Mitski regressou ao Primavera Sound Porto com um estatuto plenamente diferente. O Palco Vodafone, montado para si com uma plataforma circular de luzes no topo, deu-lhe uma plataforma central para que fizesse a sua peça. Mas esta encenação não foi de Broadway, mas sim um extenso monólogo que teve dificuldades em entreter e, sobretudo, comunicar.
Em 2017 quando pisou o mais pequeno dos palcos do festival, Mitski fê-lo como baixista da sua própria banda. Havia aí um sentido rock, condizente com rebeldes faixas de “Bury Me At Makeout Creek” (2014) e “Puberty 2” (2016), mas foi por convicção que trocou o rock pela pop. Por largos minutos esquecemo-nos de que estamos num concerto, pois os seus companheiros de palco foram jogados para segundo plano e as palavras das faixas que compõem o mais recente álbum, “The Land Is Inhospitable And So Are We”, resultaram num gospel embrulhado por frases feitas para quem se acha mais interessante por estar deprimido.
Os arranjos para as faixas dos discos “Be The Cowboy” e “Laurel Hell”, também presentes no alinhamento para além dos três já citados, criaram tamanha homogeneidade que se tornou difícil distinguir as mutações de uma artista que pareceu apreciar o distanciamento para com a audiência. «Eu amo-vos. Quero que saibam que vos amo. Embora eu não saiba quem vocês são, amo cada um de vocês. É possível amar-vos sem vos conhecer», disse a cantautora nascida no Japão, de nacionalidade norte-americana, na primeira vez que se dirigiu ao público. Sem querer procurar maior proximidade, ficou a pairar um sentimento de ‘eu cá, tu lá’. Enquanto Mitski gesticulou, deu pontapés no ar e fez bastantes caretas como uma marioneta ligada a três feixes de luz. E enquanto o fez, os aplausos surgiram, foram gravados vários reels e os fãs mais aguerridos tiveram direito a um banquete de 25 faixas e hora e meia de concerto, incluindo as muito apreciadas “Nobody” e “Washing Machine Heart”, guardas para o encore, ou a viral “My Love Mine All Mine”, que nos últimos meses tem musicado vídeos de gatos a dormir ou chávenas de café no TikTok.
“This Is A Life”, tema que co-escreveu com David Byrne para o filme “Everything Everywhere All At Once”, pode não ter constado no extenso alinhamento, mas o fantasma do ex-Talking Heads fica a pairar quando testemunhamos tamanha fantasia em palco. Mas ao contrário do influente músico escocês, há uma palpável falta de autenticidade naquilo que se diz e faz num concerto de Mitski. A própria assumiu estar «a encarnar uma personagem» durante o espetáculo, querendo romper a frieza com alguma sinceridade, mas o prejuízo é da sua inteira responsabilidade. Também Sísifo, eterno dono do trabalho rotineiro e cansativo por escolha, acabou por se comprometer nos afazeres da vida quotidiana. Mitski utilizou mobília caseira, como cadeira e mesa, para se concentrar na repetição e na monotonia como forma de se castigar perante um mar de gente.
[Não foi permitido à Arte Sonora fazer a habitual reportagem fotográfica]