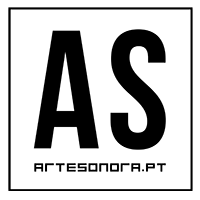O exótico som rocker dos Solar Corona, numa entrevista sobre as sessões do álbum “Lightning One”, editado pela Lovers & Lollypops.
Os Solar Corona começaram as suas emissões em 2013. Editaram dois EPs em cassete. O “caseirismo” (não confundir com caseirada) deixava a primeira evidência sobre o carácter da banda: o experimentalismo. Contudo, ao fim de um ano e meio de actividade o projecto abrandou até se extinguir. O segundo nascimento teve origem nas jam sessions do baterista Peter Carvalho, do baixista José Roberto Gomes e do guitarrista Rodrigo Carvalho. Essas sessões acabaram por gatilhar a criatividade de Rodrigo Carvalho. O músico acabou por convidar os seus companheiros de improviso para reactivar a antiga banda. Assim meio de rajada.
José Roberto Gomes recorda: «Ele convidou-nos, chegámos a ter um concerto só de jam, depois começámos a tocar as músicas antigas de Solar Corona e a dar um certo arranjo e marcámos um concerto em Espanha, na Galiza. A cena era demos um concerto com Solar Corona, com esta nova formação , mas queríamos que fosse fora de Portugal porque se corresse mal ninguém sabia de nada e não se estragava o nome da banda, porque já havia pessoal que curtia as coisas com a formação antiga, mas na verdade correu muito bem e decidimos avançar».
Já juntos com ao saxofonista Julius Gabriel, a banda fechar-se-ia com José Arantes para gravar “Lightning One”, editado pela Lovers & Lollypops em Maio deste ano. José Roberto Gomes e Peter Carvalho recordam essas sessões em entrevista com a AS.
Que pontos de contacto há neste “Lightning One” com o passado dos Solar Corona?
Gomes: O Rodrigo, que é guitarrista e também é ele que trabalha essencialmente os sintetizadores, continua a fazer algo que já fazia antes. O que mudou realmente foi a velocidade das músicas, porque o que mudou foi a secção rítmica da banda, o baixo e a bateria. Antes era mais próximo quase de um post rock, era mais lento, mais espacial. Agora as malhas são todas muito rápidas e muito pesadas. Ele também desenvolveu coisas novas e adaptamo-nos uns aos outros, mas há ainda certos trabalhos de construção de linhas de guitarra e sintetizadores onde se note que ele trouxe um bocado dessa linguagem do anterior para agora. Quem não estiver tão por dentro e não prestar atenção vai dizer que é muito diferente, porque realmente as músicas antigas eram uma cena mais calma, mais expansiva e aberta e agora é muito mais a abrir.
A segunda malha, “Speedway”, manda-me para algo como “Hocus Pocus”, dos Focus. A “Rebound”, de repente, tem uma entrada quase Motörhead e disco music e depois tem aquela quebra com o saxofone que parece o “Great Gig In The Sky”… O que é que vocês metem nesse caldeirão de influências, que referências mais podem dar?
Gomes: Uma pessoa ouve muitas cenas e tem muitas ideias que gostava de meter no papel. Mas depois pensa que se calhar isto ou aquilo não cabe nesta banda porque é muito distinto, mas também não tenho mais banda nenhuma onde possa fazer isso, então vamos raspar isso mais um bocado a ver se há maneira de fazer encaixar aqui. É um bocado por aí essa questão das influências distintas, porque são muitas.
Carvalho: E soar-nos bem. Fazemos por ensaiar muito por isso vai saindo. Não te consigo explicar muito bem como, mas vai saindo.
Gomes: Temos muitos ensaios só de improvisação e no meio disso tudo saiu uma linha que era fixe e depois, no dia a seguir, do tempo todo que estivemos a tocar já não nos lembramos de nada, mas esse bocadinho ficou e começamos a pensar: «podíamos tentar trabalhar isto». Se perguntares influências de outras bandas e assim, aí já vem muita coisa. Por acaso, tenho uma malha de Killimanjaro (estou a fazer cenas novas) que me faz lembrar muito a “Hocus Pocus”. Mas na “Speedway” penso muito mais em Motorhead e na “Rebound” penso em Death From Above. Nunca foi directo, simplesmente depois de estar construída a canção e sobretudo depois de estar gravada, quando podes ouvir com aqueles ouvidos de «e se isto não fosse meu», aí começam a surgir as coisas para onde isto remete. Mas ouvimos tipos de música, mesmo entre nós, muito diferentes.
Carvalho: Não consigo dar referências. O Rodrigo ouve muita música electrónica, gosta muito da qualidade do som desse tipo de coisas, e está a fazer solos à stoner psicadélico… Lá está, um gajo encontra matéria na vida e depois é o que queremos mesmo tocar.
Começaram com esse um concerto de jam e depois foram à malucos para a Galiza, mas que ensaiam imenso. É um bocado perceber que bandas de rock a funcionar em jam eram os Deep purple e pouco mais…
Gomes: E os Grateful Dead. Ainda tens bandas a fazer isso, mas essa questão… Recentemente falámos com o Tiago Castro da SBSR sobre o processo de composição e realmente é impossível ires buscar isto do nada. Tentamos ensaiar muito. Temos outros trabalhos e não conseguimos tocar todos os dias e a única forma de uma banda de jam funcionar é conseguir estar todos os dias a tocar e aí vai chegar a um ponto em que já se conhecem todos tão bem musicalmente que já sabes e já antecipas o que é que o outro está a fazer.
Para usar sintetização, o impacto que pode ter em determinado momento na estrutura, também é necessário consolidação na escrita das canções, senão corre-se o risco desse impacto ficar perdido numa improvisação pura?
Gomes: Sim, mas a sintetização nunca forma o elemento melódico. É sempre algo mais de textura, algo mais de camada, e aí ainda te sobra espaço para teres um trabalho ali por cima. Também sinto o Rodrigo a explorar cada vez mais a fundo as possibilidades do sinal do som sintetizado e acredito que de futuro até consigamos ter músicas em que ele pôs a guitarra completamente de parte. Da mesma forma que o Julius também entrou para tocar saxofone connosco, descobriu que conseguia tocar órgão e tem malhas em que não toca no saxofone…
Carvalho: Não conseguiríamos improvisar canções como as que temos no disco. Conseguimos improvisar e cria-se espaço para as coisas acontecerem, mas nas canções com passagens, as passagens não vêm do nada, só se estivermos mesmo inspirados.
Não tendo voz, não tendo versos ou refrão (no sentido tradicional), como definem as dinâmicas da canção e as estruturas?
Carvalho: Temos de usar o ensaio, estar de olho aberto, não deixar que a música fique aborrecida ou não seja previsível. O riff A, o B e depois o C, depois o A… Tentar não ser previsível e jogar…
Gomes: De facto, chamamos canções, mas as nossas músicas não são canções nenhumas, porque começam de uma maneira e acabam de outra. A “Beehive” é a música mais próxima a uma canção, está dividida em dois momentos. O primeiro momento, apesar de não ter voz, aquilo funciona como verso A, verso B, refrão e ponte, entra até numa cena mais de jam e depois fica o segundo bloco da música. Nas bandas de instrumentais há duas formas: com as dinâmicas, pensar por exemplo em bandas como os Black Bombaim, que também não têm voz e conseguem dar um concerto de 50 minutos sem ninguém cantar e sentes sempre a cena intensa, pois eles têm muito o crescendo do mesmo riff; e nós temos uma cena de partes, dar riqueza à música com várias partes diferentes, mas também sem tornares aquilo uma compilação de riffs.
Falaste na “Beehive”, que tem ali um sonzão de baixo. Onde é que gravaram?
Gomes: Gravámos na casa do José Arandes que é o nosso técnico de som e produtor. Ele também trabalha com Black Bombaim, trabalha com várias bandas. O som de baixo, primeiro é a maneira de tocar, toco baixo como se fosse uma guitarra, não tenho a visão que um baixista tem. Toco as cordas todas e tenho um amplificador de baixo e um amplificador de guitarra. O amplificador de baixo tem o som todo muito grave e o amplificador da guitarra tem os graves completamente cortados e serve só para médios e agudos. Tenho um split que nem é stereo. O amplificador de baixo é um Orange e o da guitarra é qualquer um que estiver à mão. Neste disco usei um Ampeg Reverbrocket e uma coluna 4×12 tmuito velhinha da Echo, marca italiana, e para o baixo é um Orange desses novos OB1. E o meu baixo é um modelo muito foleiro, mas muito bonito, o Eastwood Flying BV.
E o estúdio?
Gomes: Tem piada e as fotos estão na internet para se ver, basicamente era a casa para a família. Depois imagina que nesse hall tens uma porta que é um quarto, outra porta que é outro quarto, outra porta outro… Estávamos todos os músicos, os pedais e a bateria no hall e depois cada um à frente da sua porta e os cabos iam para trás da sua porta que estava fechada. Cada quarto tinham os seus amplificadores, para não fazer ruído para a bateria. Tínhamos toda a monição em auscultadores e gravámos em live take. Foi mais difícil para o saxofone, porque é um instrumento acústico e ia ter ruído da bateria. Então o Julius lixou-se, porque teve sempre que gravar à noite, quando nós já tinhamos feito o take.
Carvalho: Passava o dia todo aborrecido, a beber uns copos [risos]. A bateria foi captada com micros para os timbalões, dois overheads e um outro micro atrás de mim. Depois tem os truques do Arantes. A bateria com que gravei é um cadillaczinho, por acaso. É uma coisa muito bonita, mas não é que estivesse a soar a isso lá. É uma bateria antiga dos anos 60.
Gomes: É um gajo bué criativo nos métodos de captação e esse tipo de cenas. Não tínhamos uma câmara de reverb, nem tínhamos uma sala muito grande e um dos seus truques… Estás a ver aqueles home cinemas que, ali em 2005, toda a gente comprou (leitor de DVD, um subwoofer e cinco colunas pequeninas)? Tinham vários programas de som que escolhias e ele, para criar um efeito, uma espécie de reverb que engradece, punha duas coluninhas desse home cinema apontadas para um microfone e um cabo para o Aux desse sistema, activava o preset de som que queria no que estava a captar e somava na mistura.
Isso é o princípio do Hall Of Sound do Spector, na verdade…
Carvalho: Às vezes, é um espaço que precisa de ser preenchido, que fica muito bem “ali” e que dá um bocado mais largura ao som.
Gomes: Ele trabalha nisto há muito tempo, já viu de tudo, já trabalhou com todo o tipo de músicos. E é um gajo sem merdas. Há pessoal que só consegue fazer as coisas by the book e fica preso ao equipamento, ao microfone, porque senão não vai soar. Ele não é assim. Ele sabe qual é o fim que quer chegar e não precisa e ir aos livros para ver os meios para o fazer. Depois ajuda o espaço onde estás, a equipa com quem estás a trabalhar, o à vontade e o mood em que as coisas estão a acontecer. Não é só o equipamento ou o know how do técnico. Se a banda estiver a tocar bem, um gajo captando dali só pode fazer melhor, já não vai ser mau. Foi bué fixe ser feito com ele. Houve mesmo esta cena de tentar espremer isto até onde der, claro que dentro dos limites da sanidade mental.
Carvalho: Já que estávamos a investir dinheiro numa coisa, mais valia trazer mais um músico para a mistura, para ter esse input.
Gomes: É isso! Ele não é só um engenheiro de gravação, também tem visão musical e criativa. Já nem me lembro, mas houve montes de maluqueiras que foram feitas, tipo passar a mistura toda por uma Fostex de bobines, para sacar só o pre amp da máquina, do género: já gravaste tudo, fizeste os amps todos e de repente vais comprometer tudo, a passar no pré amp de uma maquineta de bobines…
Carvalho: Distorções invulgares que a malta pode não entender aquilo como distorção, é mais no som. Na altura puxa-se, experimenta-se, até houve uma ou outra experiência que não resultou, siga. A bateria que eu gravei é um cadilaczinho por acaso é uma coisa muito bonita, mas não é que estivesse a soar a isso lá. Tipo alguma coisa há de ter bazado, já é uma bateria antiga dos anos 60. É a Gretsch do Paulo “Senra”, dos Black Bombaim, com uns cascos fininhos. Aquilo se estivesse mesmo apertadinho iria soar mais, mas mesmo assim ficou fixe, teve um som mais processado. É uma Round Badge azulinha.