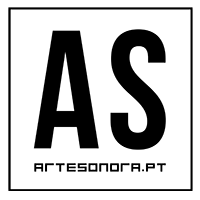Vasco Vaz revela como começou a tocar guitarra e quais os guitarristas que tiveram um papel determinante na sua paixão pelo instrumento e no desenvolvimento da sua linguagem musical.
Para criar algo especial para uma edição que, em 2018, celebrou 10 anos de publicações queríamos algo que fosse inédito ou, no mínimo, incomum, na nossa imprensa musical. Isto, claro, além dos artigos sobre instrumentos e equipamento musical de sempre. Então surgiu a ideia de reunir numa edição histórica dez grandes guitarristas portugueses.
Vasco Vaz começou a ouvir música muito cedo, com a mãe, que gostava muito de Beatles e era fã de Cliff Richard. «Lembro-me que ela tinha um disco dos The Shadows que adorava, um concerto ao vivo que ela tinha comprado quando era miúda, porque gostava do Cliff Richard, que tocava com eles. Mas aquele álbum era todo instrumental, tinha o “Apache”, tinha estes instrumentais todos. É a recordação mais distante que tenho, devia ter uns quatro anos ou cinco». Com o início dos excitantes anos 80 vieram as bandas new wave – Duran Duran, Orchestral Manoeuvres in the Dark ou Power Station. Depois pegou num disco de Iron Maiden e lembra: «Quando ouvi o “The Trooper” fiquei completamente apanhado. Também os Xutos. Mais ao menos na mesma altura, apanhei o lançamento do “Circo de Feras” e quando comprei o “Cerco” então…». Vasco Vaz pegou na guitarra e seguiu a ferocidade do thrash, criando os Braindead, banda icónica e pioneira em Portugal no cruzamento de estéticas. A sua capacidade camaleónica levou-o aos Mão Morta. E a afinidade com a cena de Bracara Augusta e a imponente banda post-punk nacional tornou-o ainda um dos fundadores de Mundo Cão.
Para a entrevista completa (se forem gearheads como o Vasco vale mesmo, mesmo a pena ler), podem adquirir um exemplar da revista na nossa loja, para descobrir mais sobre os heróis do Vasco, basta fazer scroll.
Pela quantidade de equipamento que reuniste e usas, pode deduzir-se que és obsessivo com os detalhes do teu som?
Sou um bocadinho, mas tento controlar esse freak que há em mim. Mesmo em estúdio, nunca estou muito satisfeito com aquilo que faço, mas tive que aprender a controlar-me senão nunca acabava os discos [risos], na procura de tons e de timbres. Ao vivo gosto de reproduzir tudo. Houve uma altura em que usava dois amplificadores: o Jubilee e o Trace ou o Deluxe; e uma catrefada de pedais. Em termos de timbre andava muito satisfeito, mas depois tinha a parte toda da performance do espectáculo e sentia-me muito ausente, porque tinha que me concentrar demasiado no som e perdia energia por causa disso. Actualmente foco-me em ter tudo um pouco mais simples. Na verdade, o que se está a passar até é tecnicamente mais complexo. Comecei a usar muita coisa à base MIDI, sobretudo pre-amps, power amps, etc. Tenho um rig em Braga e outro cá para baixo. Dou um toque num pedal e muda tudo. Muda o timbre base, muda os efeitos – uso muitos efeitos, mas há muitas partes em que não uso nada, em que é só mesmo o som direto – e gosta também de ter essa flexibilidade, não gosto também que o som passe por tudo.
Um guitarrista, enquanto evolui vai pervertendo um pouco os princípios básicos da aprendizagem, carregando o seu som de efeitos?
Mas para aprender e para compor ou para melhorar a performance não há nada como, de facto, ter a guitarra desligada ou usar uma guitarra acústica. Quando comecei com os Braindead, compunha-mos em casa com as guitarras eléctricas sem amplificador ou com acústicas, o que fazia que tivéssemos que dar o litro na coordenação técnica, senão aquilo não soava mesmo. Podemos dizer que é mais fácil tocar com distorção, mas não é bem assim, porque quando tens muita distorção também tens que controlar ruído e as notas que não queres que soem. Onde que é preciso apurar a técnica é quando quero tocar sintetizadores (uma coisa que também exploro). Aí a conversão da nota, da waveform para MIDI, senão for uma palhetada limpa, é complicado. Saem notas a mais ou não saem que queres. Para compor opto muitas vezes por não ter nada, mas estou a imaginar o som na minha cabeça, já tenho uma ideia se vai ser com delay ou com phaser, de como gostaria que aquilo soasse.
A maioria da malta gosta de ter um cheirinho de efeitos a gravar, para ter mais feeling… Porque será?
Porque é estranho. Num ambiente acústico nunca tens o som como aqui nesta sala de ensaio em que está muito seco, tens sempre um bocadinho de reverb. Não uso reverb, mas quando estás a tocar uma malha que é rítmica com delay, estás a tocar para o efeito. Também acontece isso. Acho que ambas as abordagens acabam por ser válidas, depende do resultado final. Sou mais da abordagem de ter menos efeitos. Refiro-me a efeitos de tempo, como delay e chorus. Reverbs uso muito raramente porque ao vivo os sítios têm reverberação. Não gosto do som do reverb pela colunas de guitarra.
Mas a tua adolescência musical é nos 80s. A era em que tudo estava inundado de reverb…
Completamente. E de chorus… Gosto disso, tenho que admitir.
Foste autodidacta ou tiveste aulas?
Nunca pensei em aprender formalmente, fui sempre brincando com o que tinha em casa. Depois quando ouvi os Maiden, decidi ter aulas [risos], aquele sistema só não ia lá. Estive uns seis meses na escola do pai do Nuno Espírito Santo, onde também andavam o Nobre e o Carlão. Foi lá que nos conhecemos. Tive aulas de viola clássica acompanhado pelo Nuno Duarte, o baixista de Mundo Cão, que é o meu melhor amigo desde essa altura. Passado um tempo saí. Nem te sei dizer muito bem porquê, estava a aprender e estava a gostar do que aprendia. Ouvia muito em casa e tentava tirar as malhas. Por exemplo, o “Powerslave” lembro-me de estar a tirar na minha acústica, não tinha guitarra eléctrica. Um outro que posso dizer que foi uma grande influência, ouvi aquele disco vezes sem conta, o “Crises” do Mike Oldfield.
Mas aí era um desafio tirar as cenas de ouvido de guitarra ali porque aquilo era tudo muito composto ou não?
Era mais as melodias. As harmonias não chegava lá tanto, mas as melodias conseguia. Tenho sorte, sem falsa modéstia, de ter um bom ouvido. Em termos de pitch, em termos de reconhecer as notas e também em termos de timbres e isso ajuda-me bastante. Tenho essa sorte. Como comecei a ter umas bases técnicas, a partir daí foi mais fácil, passado um ano e tal comecei a tocar com o pessoal, com os Braindead. O thrash era muito técnico e obrigava muito… Aprendia com os outros, aprendia outros guitarristas. Com o Nobre, por exemplo, ele tinha uma mão direita incrível para os ritmos de thrash, aprendi muito só a vê-lo, fui sempre aprendendo muito com as pessoas com quem tocava. Ainda tive aulas com um guitarrista clássico, mas o que ele me ensinava não me interessava, era mesmo a cena clássica. Fui estúpido, tinha era que aprender e mais nada, mas pronto, uma pessoa tem o sangue na guelra e quer… Como também aprendia as coisas de ouvido, borrifei-me para aquilo e aprendi muito a tocar em banda. Nessa altura, aí com 14 anos, juntei tudo o que era dinheiros de anos e de prendas e comprei uma Maison. Tenho pena de já não a ter, mas ela estava um escroto. Era uma guitarra tipo Strato, mas com dois humbuckers. O tremolo era horrível. Ensaiávamos em sítios que tinham o amplificador, no Zé da Cadela, ali em Cacilhas, então não precisava de ter um, em casa tocávamos com as guitarras desligadas, eu e o Nobre. Ainda toquei com o Miguel Fonseca, era baixista dos Braindead na altura, depois saiu e ficou só com os Thormenthor. Então entrou o Nuno Espírito Santo. E andávamos sempre a tocar malhas e a aprendíamos uns com os outros, evoluímos tecnicamente assim, também porque não havia quem nos ensinasse. Não havia internet, não havia YouTube… Às vezes era por sorte, lembro-me de descobrir como sacar harmónicos sozinho, mas porquê? Porque passava muito tempo com a guitarra.
Para uma certa geração, os Braindead foram qualquer coisa. Já metiam ali uns crossovers, soava meio funky. Como é que criaram essa mistura?
Tem muito a ver com as nossas personalidades. Não ouvíamos só isto ou só aquilo. O que encontras, geralmente, é pessoal que só ouve metal. Ou pessoal que só ouve gótico ou pessoal que só ouve techno e nós não. Por gostar de thrash não deixava de gostar de Duran Duran ou Depeche Mode. E o resto da malta era assim também. Lembro-me de irmos ao Rock Rendez-Vous, éramos uns miúdos, ainda dentro do thrash, muito, mas já tínhamos elementos de death metal, de cenas progressivas, que os Metallica começaram com ritmos marados e começámos a ouvir cenas como Watchtower que era brutal e, à nossa maneira super naïf, tentávamos fazer aquelas polirritmias. O Marco Franco era o nosso baterista na altura (está nos Memória de Peixe, esteve nos Tim Tim por Tim Tum), conseguia tocar tudo de Metallica e de Kreator, com uma grande técnica. E gostávamos de explorar essas cenas, mais progressivas como Coroner e Watchtower ou como os Death também vieram fazer mais tarde, mas também cenas de funk, depois os Suicidal também tinham algumas cenas assim de rap. Levámos ao Rock Rendez-Vous de um tema que estava na berra, o “Funky Cold Medina” dos Tone Loc, e pensámos como o público iria reagir e, na verdade, ficou tudo com aquela atitude que «o que é esta merda?» [risos]. Matinés de metal, estás a ver? Ninguém fazia aquilo e isso sempre esteve no ADN da banda, depois foi uma progressão muito natural. Mais tarde comecei com Mão Morta em ‘94, foi-me dando cada vez mais gozo e Braindead foi o processo inverso porque estava um bocadinho descaracterizado, já não havia os elementos originais… Sempre fui muito da cena de estar dedicado a uma banda, porque sou um bocado obsessivo então não me quero dispersar muito [risos]. Quando Braindead teve o hiato, aí tive uma série de bandas: Incesto, Esborr, Agora Colora. E nessa altura estive no Hot e o Mário Delgado foi o meu professor.