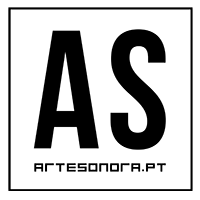Os Rosa Crux voltaram a Portugal pela segunda vez em pouco mais de um ano. Da primeira vez encontramo-nos no muito alto do castelo de Leiria, onde foram anunciados com a pompa e a circunstância que uma embaixada real solicita. Chegaram desta vez, discretos e sigilosos, à capital do reino, quando a intempérie varre qualquer incauto das ruas, para cumprir uma função litúrgica.
Vivemos hoje maioritariamente em cidades, sob a batuta de ritmos electrónicos e horários artificiais. A mudança da hora é-nos ditada por avisos no telemóvel e não pela posição do sol no horizonte. A mudança das estações reflecte apenas e somente uma maior dificuldade em chegar ao emprego todos os dias, pois a chuva e a neve tornam as filas maiores, e um menor período de luz solar que é sem sombra de dúvida compensado pelo calor dos nossos monitores. Mas não diminuímos o nosso ritmo de vida para acompanhar a lentidão que o Outono que aqui está e o Inverno que já aí vem, pedem. O trabalho não se faz sem sol mas a electricidade ultrapassa sem problemas(?) esse constrangimento natural. Somos felizardos. Os rituais antigos dos tempos da natureza e dos ciclos e das estações e das colheitas, esses mantêm-se. Adulterados, diminuídos, bastardizados, quase irreconhecíveis, mas mantêm-se. Na passagem do que hoje em dia chamamos Outubro para o que chamamos Novembro, a época da queda das folhas e em que o anoitecer da vida atinge o seu auge, um desses rituais tem lugar. Há quem diga que é nesta altura que a fronteira entre o visível e o invisível, entre vivo(s) e morto(s), se torna mais porosa. E é nesta altura que nos recolhemos em casa. E acendemos velas e fogueiras. E confeccionamos manjares com que o foi semeado na Primavera e colhido antes do grande frio se instalar. E fazemos ofertas a quem nos possa bater à porta numa noite que seja, como no velho cliché literário, escura e tempestuosa. Como foi este primeiro sábado de Novembro. Vivemos em cidades e às vezes a terra e os seus ritmos parecem-nos uma memória distante, mas isto é somente uma ilusão da modernidade, e numa noite como a de ontem, a marcar o fim da grande festa de Samhain, voltaram-nos a bater à porta e convidamos a quem vinha do coração de uma Europa medieval, já distante mas nunca esquecida, a entrar na nossa casa.
Os Rosa Crux voltaram a Portugal pela segunda vez em pouco mais de um ano. Da primeira vez encontramo-nos no muito alto do castelo de Leiria, onde foram anunciados com a pompa e a circunstância que uma embaixada real solicita. Chegaram desta vez, discretos e sigilosos, à capital do reino, quando a intempérie varre qualquer incauto das ruas, para cumprir uma função litúrgica. Para poucos. Muito poucos. Para quem atendeu o chamado. Ou para quem o entendeu. Vem de Rouen, a velha capital da velha Normandia, um reino que já não existe e por isso é mais real, onde um dia foi julgada e queimada Joana d’Arc. Sob a falsa acusação de bruxaria. Que foi falsa não por ser de bruxaria mas por ser uma acusação. E sendo esta a semana em que a uma das noites se dá o nome de bruxas, ou das bruxas, é apropriado que tanto do que estes menestréis franceses carregam e simbolizam sugira o tempo em que estas “bruxas” (talvez um nome genérico dado a todas as mulheres só por o serem) sentiam na carne os ferros da civilização. E há muito metal neste palco. Há uma espécie de carrilhão transportável, formado por sinos antigos e maciços. O som saído deste tipo de instrumento marcou o ritmo das vidas e das mortes nas vilas e aldeias de uma Europa em que a cidade burguesa não tinha sido ainda inventada. E marca um concerto de Rosa Crux, porque ainda que não seja sempre utilizado, a sua presença visual é de tal forma marcante que o seu som em silêncio continua a soar mais alto do que qualquer um dos outros instrumentos.
Existe um orgão algo litúrgico que por vezes evoca o som de um gigantesco piano de brincar, daqueles que todos possuímos enquanto crianças para arrancar proto melodias desafinadas. Existe uma bateria marcial e compassada, com os timbalos posicionados de forma estranha, acima do símbolo da banda que aparece como uma lua cheia na noite do palco. Existe um contrabaixo esguio e afiado, como uma cítara. Ou como uma cimitarra. Que é a espada com que muitos francos foram decapitados na poeira do deserto. Existe uma guitarra algo dilacerante, algo melódica, de uma melodia gritante. Como se o seu reverb revelasse o quanto desesperadamente ela quer escapar do facto de ser em palco o instrumento da modernidade musical. Como se quisesse ser ela própria algo acústico, antigo e arcano, e não o supra sumo de um desenvolvimento tecnológico, que aqui tanto é abandonado. Conscientemente abandonado. Em favor do que o tempo esqueceu. Como a linguagem musical da banda. Olivier Tarabo canta em latim, a língua que une a dele com a nossa, e que normalmente vem acompanhada do epíteto de morta. E que como todos os mortos retorna também ela pela fronteira que se dissolveu entre os dois (somente dois?) mundos. A língua das missas e das invocações. Com letras não escritas pelos próprios mas transpostas de textos litúrgicos e de formulas esotéricas. Porque assim não é ele que fala connosco, mas vozes perdidas no tempo que nos lembram que somos nós que estamos perdidos hoje em dia na linguagem profana do economês, do tecnocrático, do publicitário, do quis que disse. Disse o quê? E quem disse? Saberás mesmo o que dizes? Não sei porque não falo latim. Falo (e escrevo e penso) numa língua que em tempos foi o latim, e hoje é esta coisa qualquer, e que diz palavras que se atropelam umas as outras. O vocalista em palco diz pouco. Ele próprio será talvez um quase tímido, e esta proximidade entre todos que aqui estamos, gerada pelas condições da sala e pelo escasso número de presentes, favorece e ao mesmo tempo desfavorece o ritual. Porque tem de haver distância, tem de haver espaço para que o invisível seja invocado e se faça presente. Atrás da linha vocal principal, que Tarabo delineia à boca de palco, está o coro feminino, glacial, às mecânico às vezes chilreante, com o olhar vago das fúrias. Das fúrias de muitos corpos e corações e almas que com ferros foram feridas. Corpo e alma. Rosa e cruz. O espinho da rosa. O sangue que pulsa no corpo. A matéria que se dissolve no solo. As feridas da terra. As lágrimas que Lisboa parece chorar sob a forma de chuva enquanto aqui estamos abrigados entre madeiras e veludos, num segundo andar que se sente como cave. Porque há uma cave em cada um de nós e é nela que estas coisas se sentem.
Quis o destino que o concerto se deslocasse de uma república da música, para um edifício emblemático da república, a Caixa Económica Operária, resquício de um tempo em que se acreditou que a máquina e o raciocínio e a boa vontade iriam resgatar a prole das trevas onde as superstições do passado a haviam deixado. Edifício onde há uma plateia e um primeiro balcão e as sombras que vagueiam para cima e para baixo entre eles, um palco onde as máscaras da comédia e da tragédia perduram desde os tempos clássicos sobre os artistas. Edifício onde, em tempos que já lá vão fui um dia introduzido a um género musical que se chamava de gótico. Como as antigas catedrais. E são essas catedrais (e os seus vitrais, e gárgulas, e capitéis e colunatas) que são agora retroprojetadas no fundo do palco. Essas e outras imagens. Sinos a tocar a repique. Litografias antigas, belas e grotescas. Corpos a serem despidos. Um ser humano enjaulado dentro de uma bola metálica embate contra uma parede e o som reverbera pela sala. George Orwell disse um dia que o futuro é uma bota esmagando um crânio humano. Para sempre. Mas o que destrói também liberta. E no final, no confronto entre o é duro, pesado, civilizacional, masculino, que rasga e corta e ferre e moi, e o orgânico, o volúvel, o macio, o terno, este último sempre ganha. No final irrompe sempre alguma erva entre as pedras da calçada. Aqui, onde o melhor de mente positivista e industrial pretendeu formar as gerações que iriam finalmente dobrar a natureza. Mas a natureza não se dobra, contorce-se. Distorce-se. Baila. No final temos corpos nus, feitos talvez de barro talvez de carne, a executarem a dança da terra, a lançar poeira no ar sem tirar o pé do chão, e ao pó retornamos, pois o que era preto e vermelho e estilizado, torna-se castanho e sujo, e a grande mãe que rege os ciclos e as estacões, e é velha e manhosa, arranja sempre forma de se imiscuir no coração do homem e dele desprender poeira, e ensinar a expirar. E inspirar. Ritmicamente. Elásticamente.
Os poucos fazem no fim muito ruído e a banda retorna ao palco. Noutro concerto chamar-se-ia um encore. Aqui neste palco proto parisiense e com estes músicos franceses seria perfeitamente adequado. Mas não creio que isto seja afinal realmente um concerto. A sua última música é quase um longo loop de feedback. Quase como o ruído da criação. Quase como o que se ouve ao emergir de um longo percurso por um ainda mais longo túnel se a luz no fim do mesmo tivesse um som. Os dois gigantescos castiçais que ladeiam o palco vão sendo pouco a pouco apagados. Vela a vela. Milimetricamente. A penumbra vai caindo. A claridade vai aumentando. Cá fora chove. E a crise afecta as carteiras. E as mentes. E os espíritos. Vivemos hoje maioritariamente em cidades mas a ordem que as cidades nos concederam nos últimos séculos vai-se pouco a pouco fragmentando, e o que interessa sobretudo é o que surge por entre as frestas. Na semana das bruxas, e dos mortos, e dos corpos, surgiram os Rosa Crux. Vieram com a borrasca. E pela manhã já cá não estavam. E as ruas estavam limpas! E é Domingo, e no dia do senhor muitos de nós precisam de se enfiar em escritórios e a forçar o corpo a cumprir e a competir, fora do seu ritmo natural, porque afinal quem precisa de ritmos quando temos electricidade. Somos felizardos!