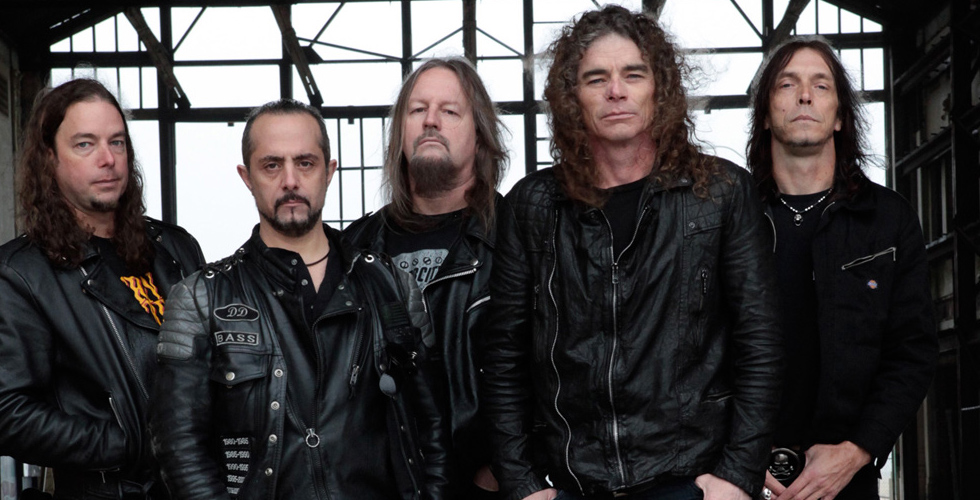Bobby Blitz sobre “The Electric Age”
Ao mesmo tempo que fala nas misturas e produção do último álbum, deu algumas dicas sobre os micros que usa e ainda antecipou a presença dos Overkill no Vagos Open Air!
Calculo que não saibas mas se verificares a tua informação wiki, na versão em português, supostamente faleceste no passado dia 12 de Junho…Estou oficialmente a falar com um tipo morto!
[Nota de redacção: o nosso alerta surtiu efeito e a informação já foi corrigida!] [Gargalhada]
Talvez assim, morto, atraia menos problemas.
É verdade, tiveste um ou dois sustos de saúde, como te encontras actualmente?
Nada mudou na verdade, e penso que a melhor prova disso é o último disco. É carregado de energia, está dentro daquilo que sempre fizemos, não há mudanças ou algo a soar como “alguém que precisa de tomar cuidado consigo próprio” se pensarmos no meu input, aliás eu diria mesmo que está exuberante. Portanto, quando me perguntam como vou de saúde sugiro que carreguem no play e ouçam o “The Electric Age” e terão a resposta [risos].
O “The Electric Age” é a mais recente etapa num percurso de “renascimento” junto da crítica que terá iniciado em “Killbox 13”. O factor decisivo para esse ressurgimento prende-se com a consolidação do Dave Linsk e do Derek Tailer nas guitarras e posteriormente a entrada do Ron Lipnicki?
Tem tudo a ver com química, é tão simples quanto isso. Não é suficiente colocares juntos 5 tipos que são bons no que fazem e ficar à espera de teres um grande disco, assim não funciona, depende sempre da química e este line-up é muito bom nesse sentido. Por exemplo, este é o terceiro álbum do Ron connosco e nesta altura já percebeu que não é o D.D. [Verni] ou eu quem está ao leme do navio – é ele o baterista, o leme é dele! E esse entendimento vai permitindo conseguir bons resultados.
Não sei se diria um renascimento. Penso que a cena actual está muito saudável e de alguma forma há uma maior aceitação daquilo que fazemos enquanto Overkill. Isto para dizer que se a isso juntares uma boa química de banda consegues resultados como o “The Electric Age”. Estou bastante orgulhoso deste disco.
Uma das belezas deste género é que nunca é influenciado pelos que estão no exterior, quer sejam fãs ou não.
Já que estás a falar na saúde da cena e se pensarmos que o “The Electric Age” entrou no Top 100 da Billboard, podemos esperar que o thrash metal recupere a sua antiga glória?
Desde os primeiros tempos de Overkill que esse nunca foi um objectivo. O melhor plano é fazer o que fazes e depois ou isso é aceite ou não. De qualquer forma a cena está realmente bastante saudável e penso que a maior prova disso são as novas bandas de thrash que estão a surgir – há por aí miúdos na casa dos 20 anos a tocar coisas muito similares às da primeira explosão do thrash, influenciadas por Testament, Exodus ou Death Angel, ou até mesmo Overkill. Há essa passagem de testemunho ao mesmo tempo que se torna muito motivante para as bandas mais antigas procurar mostrar como se fazem as coisas bem feitas! Aos meus olhos há bons resultados porque há uma grande competitividade. Nunca vou a jogo para perder, vou para ganhar [risos].
A competição é uma coisa boa. Se estiver em tour com, digamos, os Exodus e os Evile, irei para palco com a intenção de ser a banda da noite, não podem ser eles a ganhar-me o palco! No final as pessoas que ganham mais com esta competitividade são as pessoas que apoiam a cena, aqueles que compram discos e bilhetes para os concertos, pois a competição faz-nos forçar os limites.
Este é o segundo álbum na Nuclear Blast, que actualmente já se aproxima mais de uma editora como a Atlantic, na qual chegaram a estar, do que com a típica editora indie de metal. Como estão a correr as coisas, eles forçam algo na produção?
Uma das belezas deste género é que nunca é influenciado pelos que estão no exterior, quer sejam fãs ou não. O encanto é não haver regras. E as pessoas na Nuclear Blast percebem isso, é muito confortável quando vais à sede deles na Alemanha, ou alguma noutro canto do mundo, e o pessoal que trabalha lá está a usar t-shirts com logotipos de bandas de metal, e percebes que são fãs. E o que penso é que, se és fã disto então não estragues!
Lembro-me de, em 1993, quando estávamos a fazer o “I Hear Black” e fui a New York com o D.D. – estávamos sentados no escritório da Atlantic Records e falar com um tipo do marketing, vestido de fato e gravata e a dizer-nos os planos de promoção do disco. Às tantas desculpou-se e atendeu uma chamada fora da sala, voltei-me para o D.D. e disse-lhe: “Meu, estamos f******! Esta gajo não percebe nada disto!” [gargalhada]
No plano oposto, numa editora com a Nuclear Blast estás a falar com um tipo que tem vestido uma t-shirt de Warbringer ou Exodus e percebes que ele entende o género e gosta. Eles não enfiam o nariz no trabalho a dizerem-te “precisamos de outra “In Union We Stand” ou outra “Bastard Nation””, dizem-nos simplesmente que façamos o que queremos pois é isso de que eles gostam.
Antes não havia tecnologia que pudesse corrigir uma nota errada, para acertares a nota tinhas que fazer take após take até a conseguires.
E onde gravaram o “The Electric Age”?
Gravámos nos Gear Studios, que são propriedade do D.D., e onde nos podemos envolver bastante da produção, todos nós e não apenas o Verni, eu por exemplo assumo muito a produção vocal. De qualquer forma saímos um pouco fora de nós próprios e entregamos, normalmente, a mistura a pessoas fora da banda, para no final conseguir opiniões mais objectivas. No caso deste álbum a mistura foi do Greg Reeley, que reside em Vancouver, no Canadá, portanto tens um tipo a mais de 3.000 milhas de distância a misturar o que produziste e a opinar sobre o trabalho. Acho que funcionamos bem assim. Mesmo o “Ironbound” teve a mesma estratégia, com o Peter Tägtgren [Hipocrisy], ou seja, não estamos “lá” em cada momento do trabalho!
Todavia há muitos benefícios em ter um estúdio na “família”. O principal será o luxo do tempo. Bom, penso que se tivéssemos 25 anos íamos fazer m**** com tanto tempo disponível – nessa altura as coisas eram mais acção versus reacção – mas actualmente pensamos bastante o que estamos a fazer. Se gravámos as baterias em Junho, as vozes foram gravadas em Dezembro e aproveitamos todo esse tempo intermédio para realmente trabalhar as canções.
No “Electric Age” fizemos algo muito particular, intervalámos as sessões de gravação com concertos. Após as sessões de bateria, fizemos uns festivais na Europa; depois das sessões de baixo, fomos para uma tour sul-americana e depois, antes das vozes, fizemos algumas datas nos Estados Unidos. Todo esse feeling e experiência ao vivo acabaram captados pelos microfones nas sessões de estúdio. Isto tudo foi feito através desse luxo do tempo que referia e nos deu a oportunidade de conseguir algo especial e muito mais polido!
É daí que resulta a forma super sólida e coesa como se ouve a banda no disco?
Uma das grandes características da produção deste disco é o facto de não precisares de puxar pelo volume até ao 10 para soar alto! No metal muitas vezes, para se enfiar tudo num disco estás a tentar meter 5kg de m**** num saco onde apenas cabem 2.5kg [risos]. E depois precisas de meter o volume no 10, porque está tudo tão comprimido.
O “Electric Age” soa alto no volume 2 e depois vai ficando mais e mais alto conforme sobes o volume. Acho que isso se deve à grande mistura que teve. Há algo que também considero decisivo que é o facto de, estando nesta era com mais possibilidades digitais, termos aprendido as coisas à “moda antiga”. Fazer as coisas dessa forma significa que tens que saber como tocar! Não havia tecnologia que pudesse corrigir uma nota errada, para acertares a nota tinhas que fazer take após take até a conseguires!
Um bom equilíbrio de trabalho entre a velha forma de estar em estúdio e as possibilidades e soluções disponíveis actualmente é o ideal.
Referias o facto de prestares muita atenção à produção vocal. Considerando o teu timbre vocal, as tuas notas agudas, há algum tipo de micro específico que tenhas como favorito para captar a tua voz?
Bom, ao longo dos anos habituei-me a gravar com um Neumann U87. É um micro tão sensível que te pode captar o batimento cardíaco se elevares o volume. Uma das características que sempre gostei na minha voz é o facto de não ser suave. É aguda, sim, mas áspera. Não é anasalada, mas com muita garganta e quero isso captado pois acho único e algo especial. Com o Neumann consigo isso, ocasionalmente uso um Shure SM7B.
Há muito tempo que não vamos a portugal e portanto estamos entusiasmados por regressar.
Como te preparas para uma performance e proteges a voz?
Tento aquecer sempre bem, faço escalas tal como os cantores líricos (quer em estúdio quer ao vivo) ou, pelo menos, tento imitar isso. Sigo notas de piano que decorei de quando aprendi esse exercício. Não há volta a dar com a voz. Se não for tratada correctamente… falha, porque é um músculo. Se fores um corredor nos Jogos Olímpicos é bom que aqueças bem ou rebentas um músculo na coxa, na perna ou na zona lombar depois na prova.
Não tenho preocupações como resguardar-me demasiado do frio ou se bebo cerveja gelada ou fumo muito. É preciso é aquecer bem antes duma actuação e respeitar esse músculo que é bem forte e nunca enfraqueceu, após este tempo ainda consigo atingir as notas mais extremas que fazia quando era mais jovem.
Vão estar na máxima força no próximo concerto no Vagos Open Air!
Há muito tempo que não vamos a Portugal e portanto estamos entusiasmados por regressar, isso torna o concerto algo especial. De resto, apresentar-nos-emos em Vagos da mesma forma que faríamos em Los Angeles, New York, Tokyo ou Berlin. Penso que uma das grandes características dos Overkill tem sido a sua consistência durante três décadas. Como dizia, o cenário do thrash está num bom momento, temos feito bastantes festivais e foi muito agradável surgir um festival português nas nossas opções.