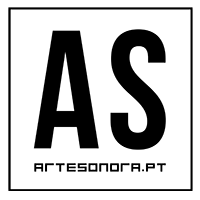André Henriques, a voz dos Linda Martini, falou com a AS sobre ter soltado as amarras e ir para fora de pé com o seu “Cajarana”, um disco elegante, pessoal e instrospectivo.
“André Cajarana” era a figura central da novela brasileira “Pai Herói”. Estávamos nos anos 1980. Na altura, sendo o único André na sua escola, aquele que é agora mais conhecido por dar voz (e uma das guitarras) às canções dos Linda Martini ganhou uma alcunha que detestava, uma «memória de desconforto e de construção de identidade».
Aos 40, André Henriques voltou a debater-se com a sua própria identidade quando um dia decidiu escrever o primeiro disco a solo. Longe dos amigos, distante da banda de sempre, os Linda Martini. «Quem sou eu? Um disco de André Henriques vai soar a quê?», perguntou-se.
Ultrapassada a questão inicial e talvez para espiar os fantasmas da infância, resolveu chamar o disco de “Cajarana”. Compôs 12 canções em dois meses e depois chamou o baterista/percussionista Ivo Costa (Bateu Matou, Carminho, Sara Tavares), o guitarrista Pedro Ferreira (Quelle Dead Gazelle) e Ricardo Dias Gomes (Caetano Veloso) para tocar baixo, sintetizadores e co-produzir o disco. A meio do processo, descobriu que Ricardo é neto da autora da novela em questão.
André Henriques fala-nos desta coincidência absolutamente incrível, da vontade de fugir da cidade e ter uma casa na praia, mas também de todo o processo de composição do seu elegante, pessoal e introspectivo álbum de estreia – e que mereceu, na review da AS, palavras como «maturidade nas composições» e «linguagem musical cativante».
“Cajarana” só existe porque André Henriques decidiu um dia largar a estabilidade de um contrato de trabalho e um horário fixo por amor à música e à realização pessoal. Um verdadeiro salto para o escuro que, se não tivesse acontecido, não teríamos, agora e para sempre, um grande disco para ouvir.
Tinhas escrito este disco se não tivesses deixado o teu emprego das 9 às 5?
Acho que não teria acontecido. Até 2015, tinha um trabalho a full-time e muito pouco tempo para me coçar, por vezes até tinha de tirar dias de férias para os compromissos dos Linda Martini. E, até essa altura, toda a minha produção musical era escoada para a banda. Por isso, não, quase de certeza que não teria escrito este disco.
Pegando numa frase do tema “Pais e Mães e Bichos”, pode então dizer-se que andaste muitos anos a “domesticar os sonhos”?
Eu e grande parte da nossa geração! Venho de uma família em que faço parte da primeira geração de licenciados. Havia aquela guilhotina por cima da nossa cabeça para arranjar um trabalho que desse algum conforto financeiro e a realização pessoal era uma coisa que iria acontecer, mas não seria uma prioridade. Fui-me escondendo atrás disso, se calhar também muito porque quando me comecei a interessar mais pela música, aos 14, 15 anos, as bandas que ouvia e admirava dentro da cena punk e hardcore eram bandas que na sua maioria não viviam da música e, portanto, para mim, esse contrato foi sempre muito claro. Por um lado, ganhava o meu dinheiro, sem compromissos, e, por outro, fazia música com os meus amigos quando podia, ao final do dia, ao fim-de-semana, quando desse. Esse sempre foi o contrato que defini para mim e que de alguma forma me equilibrou. Quando fui pai pela primeira vez, caiu-me uma ficha grande. Pensei: «Não quero ser isto. Não me apetece passar isto para os meus filhos. Apetece-me ter alguma realização pessoal que já não encontro quando estou aqui a trabalhar das 9 até às tantas». O tempo que dedicava à música era sempre menos do que gostava, daí a minha decisão.
É-se pior músico quando a maior parte do tempo é dedicada a outras actividades.
Concordo plenamente. E até tenho tido várias conversas sobre isso ao longo dos anos. Quando esse assunto vem ao de cima, costumo dar o exemplo de um amigo de infância. Ele fazia natação, foi atleta do Benfica, campeão nas categorias juvenis, e chegou a uma altura em que teve de ir para a Faculdade. A questão que se colocava era se iria manter o ritmo de treinos, que já era muito exigente. A decisão dele foi tirar o curso. Eventualmente, se morasse noutro país, onde não existe esta pressão para se ser doutor e ter um emprego sério, entre aspas, e como o talento dele era mesmo a natação, se calhar teria sido apoiado desde o início para poder fazer as duas coisas de forma equilibrada. E, provavelmente, teria hoje uma vida profissional que o deixaria mais realizado. O mesmo se aplica aos músicos. Há vários tipos de inteligência, as cabeças funcionam de forma diferente de pessoa para pessoa. Os miúdos não têm de saber fazer todos as contas da mesma maneira, ou falar as línguas todas da mesma forma. A música é também uma linguagem, uma forma de expressão. E seria óptimo se tivéssemos oportunidades para desenvolver essas capacidades mais cedo. E a música não ser vista pela sociedade como um trabalho menor, ou como uma brincadeira. Estamos fartos de ouvir aquela pergunta clássica: «Tocas? Mas qual é a tua profissão, como é que fazes para ganhar dinheiro?». Ninguém acha que isto é uma profissão. É um estereótipo e a maioria das pessoas ouvem uma canção de três minutos com um ou dois refrões e muitas vezes nem fazem ideia do trabalho que está por detrás da canção. Dá trabalho como outra coisa qualquer, como fazer uma mesa ou pintar uma parede.
Tiveste medo quando optaste por dar esse salto no escuro?
Muito. E até tive uma conversa difícil com os meus pais. Tirei o meu curso, nunca lhes dei problemas de maior, saí de casa quando arranjei o primeiro trabalho, sempre fui uma pessoa independente financeiramente e, de repente, com a vida toda encaminhada, com óptimas condições de trabalho numa empresa excelente, com as regalias todas, prestes a ser pai pela primeira vez, digo-lhes: «Vou saltar!». Mas é, de facto, um salto para o escuro. Obviamente, tinha a música, mas também a música poder dar num determinado ano e noutro não, ou pelo menos há a dificuldade que podes ter durante o tempo em que estás a fazer um disco, até virem os concertos. Ou pode aparecer um imponderável, tipo uma pandemia. Essa conversa com os meus pais foi difícil. Disse-lhes: «Sei que acham que a minha vida é por aqui, mas não é isto que me faz feliz. Não venho cá para vos pedir ajuda, mas para vos comunicar a minha decisão. Vamos ver no que dá». Felizmente, tenho-me aguentado. Mas tenho de fazer aqui uma confissão: claro que é um bocadinho “ir de cavalo para burro”. Passas de um momento em que tens um ordenado fixo, em que quer trabalhes muito ou trabalhes pouco o dinheiro acaba por cair na conta ao final do mês, para uma situação em que tens de mudar toda a tua rotina diária e obrigares-te a ter um horário ou algo parecido e conseguires fazer coisas que te realizem. O que me custou mais, nos primeiros tempos, para além dessas ansiedades relacionadas com os dinheiros, foi mesmo a questão dos horários. É muito fácil habituares-te àquele esquema em que te dizem o que tens de fazer, onde tens de estar e a que horas. De repente, acordas e pensas em todos os sonhos que tinhas quando trabalhavas num escritório, tipo: «Se hoje não fosse trabalhar ia para a praia ou ler um livro». Uma coisa é projectares isso, outra é a primeira segunda-feira sem o teu emprego fixo. Ficava do tipo: «Mas então e agora? Não tenho uma reunião. Não tenho um ficheiro para enviar. O que é que vou fazer?». Isso deixou-me louco, no início. O meu refúgio foi o estúdio. Ia todos os dias, fiz uma data de canções e foi a minha forma de ter uma rotina que não a do escritório.
Este disco tem 12 canções que fiz em dois meses e os ensaios com a banda não foram mais do que seis ou sete
Quando começaste a escrever as primeiras canções de “Cajarana” foi-te fácil resistires à tentação de as levares para a sala de ensaios dos Linda Martini?
Essa foi uma das razões pelas quais nunca pensei fazer um disco a solo. Tinha de pensar onde é que traçava a linha. O que é que é uma canção minha e uma de Linda Martini. Quase desde criança que estou habituado a fazer músicas e trocar ideias nos ensaios de Linda. Claro que tive de pensar sobre como fazer um álbum a solo que não soasse à minha banda de sempre. Obviamente, rodeando-me de outros músicos que toquem de forma diferente, mas há uma raiz comum: não posso mudar a voz, o timbre é o mesmo, a forma de compor, os vícios, o tipo de soluções melódicas e harmónicas, enfim, há muita coisa que é muito difícil de mudar de repente. Mas o momento em que decidi foi repentino. Tinha duas canções e foi do tipo: «Porque não?». Na altura, tinha escrito umas canções para o disco da Cristina Branco, mas fiquei com uma ou duas porque achei que não tinham muito que ver com ela. E achei que aquelas duas canções podiam ser interessantes com outro tipo de arranjos, menos abrasivos, com menos guitarras, uma coisa mais simples. E tudo surgiu a partir daí. Em dois meses, transformaram-se em 12 temas, mas foi uma coisa tão pouco premeditada. E acho que tinha de ser assim. Se tivesse planeado muito, se calhar a meio tinha saltado fora do barco por medo de não conseguir fazer uma coisa diferente. Depois, comprei uma guitarra acústica, que nem sequer tinha, e isso foi mesmo uma procura de um timbre diferente. E depois pensar em reunir-me com outras pessoas que me ajudassem a dar uma cor diferente aos temas, para não canibalizar o som da banda [Linda Martini].
Chegaste a mostrar as canções à tua banda nessa fase do processo?
Partilhei uma coisa ou outra com o Hélio [Morais], porque ambos paramos muito pelo Haus, ele para os trabalhos de agenciamento e eu para alguns trabalhos de copy. Mas houve um certo pudor do meu lado em querer mostrar tudo. Por um lado, porque não queria ser influenciado por eles, porque toda a vida fiz canções com eles, por outro, porque achei que era fixe mostrar o disco quando estivesse mais perto de estar finalizado. Eles sabiam que eu estava a fazer um disco, aliás, o Hélio e o Pedro [Geraldes] também já tinham uma série de canções a solo, até começaram antes de mim. Não foi propriamente uma novidade. Mas claro que lhes mostrei antes de toda a gente ouvir, ainda na fase das misturas. Fomos trocando umas bolas, mas não foi imediato.
Como é que surgiu a entrada de Ricardo Dias Gomes para co-produzir o disco?
Não o conhecia e cheguei a ele por via do Pedro Trigueiro, da Arruada, que faz o meu management e agenciamento. Sou muito pouco dado às tecnologias de edição, sempre fui muito nabo naquilo e, se calhar, também por preguiça, mas gosto mais da parte da composição. Por isso, nunca tive computador para gravar em casa, ou placa de som, sou um gajo muito desleixado nisso. Agora, com a pandemia, até me começou a dar vontade… Na altura, disse ao Trigueiro que precisava de alguém para me ajudar a fazer umas maquetes, porque andava a gravar as ideias de voz e guitarra e algumas harmonias para o telefone. Era fixe arranjar uma forma de captar tudo de uma forma mais simples e eficaz, uma pré-produção. Falámos de alguns nomes e entretanto ele lembrou-se do Ricardo. Disse-me que era um brasileiro do Rio de Janeiro mais ou menos da minha idade, que mora cá e que já tinha colaborado com alguma malta. Disse-me que tocava baixo e sintetizador, que tinha tocado com o Caetano Veloso na banda Cê e passou-me o contacto. Quando me disse aquilo fiquei com curiosidade de o conhecer. Ainda mais porque essa banda entra em três discos [“Cê”, 2006, “Zii and Zie”, 2009 e “Abraçaço”, 2012] que ouvi muito na altura. Ele também é parecido comigo em termos de postura, algo reservado e fizemos logo um clique. Mostrou-se disponível para trabalharmos no estúdio caseiro dele e começámos a co-produzir o disco. Tudo muito simples. Quando já tínhamos os esqueletos das canções, começámos a imaginar que instrumentos fazia sentido incorporar. Daí cheguei ao Ivo Costa e ao Pedro Ferreira para nos ajudarem a transportar aquilo para estúdio. Gravámos os quatro e, depois, o Ricardo passou a tocar comigo a partir do momento em que fizemos concertos com banda. Além do trabalho que foi muito fixe de fazer, ganhei também uma amizade por ele no decorrer do processo. E quando descobri que é neto da autora da novela foi absolutamente surreal. Uma grande coincidência.
Dirias que o papel do Ricardo foi mais determinante na fase da pré-produção ou quando foram gravar para a Valentim de Carvalho?
Gravámos o disco com o Nelson Carvalho, que é uma pessoa que não se limita a gravar. Quando tem uma ideia, partilha. Ele é incrível e dá sempre bons inputs. Por exemplo, o rufo de tarola no final de “E de Repente” é uma ideia do Nelson. O Ricardo foi de facto muito importante no primeiro registo. Quando fomos para estúdio foi tudo tão rápido que não nos detivemos muito com os detalhes. Há muitas canções que têm uma forma aparentemente simples, mas há estruturas não muito convencionais, ou com apenas um A, ou sem refrão, e eu gostava que as soluções também não fossem muito convencionais, quis envenenar um pouco os temas. O Ricardo foi determinante na exploração sónica, nos sintetizadores, que são instrumentos que não domino, e nos arranjos. O Ricardo é um baixista incrível, um músico muito dotado e ajudou-me na forma como adornar as canções. Mais nos arranjos e soluções do que nas estruturas.
O disco é algo despido e despojado de muitos arranjos. O trabalho de estúdio foi quase apenas de registar o que já tinham feito antes ou alteraram muita coisa?
Não. O disco foi gravado em seis ou sete dias e praticamente todo com takes directos. Houve uma ou outra música que foi ao primeiro take com banda, tudo ao mesmo tempo. Há um ou outro overdub, mas não perdemos muito tempo nas soluções. Por exemplo, em “Tecido não Tecido”, eu tinha a ideia de ter uma nota insistente em toda a canção e o Nelson achou que o tema não merecia um piano convencional, então, cortou o ataque à nota e ficou a parecer um sonar, um radar de um submarino. Claro que naquele estúdio dispões de uma série de ferramentas e estar no estúdio é sempre um momento de criatividade, com soluções de última hora que são muitas vezes as mais interessantes e que não nos ocorrem quando estamos na sala de ensaios. Ao contrário de tudo o que fiz até hoje, este disco tem 12 canções que fiz em dois meses, no máximo, e os ensaios com a banda não foram mais do que seis ou sete. Foi um processo muito rápido. O disco surge assim mais despido porque a minha praia natural seria o rock. Há momentos com alguma distorção e em que fica um pouco mais abrasivo, mas a tentação foi sempre não ir por aí e concentrar a coisa mais no texto, na voz e na guitarra. Parte da magia do disco surgiu de uma certa não preocupação com pregos ou ligeiras desafinações, quis que fosse cru e não muito polido. Nunca perdemos muito tempo para corrigir. Claro que fomos arranjando uma ou outra coisa, mas nada de muito exagerado.
A melancolia está desde sempre presente na tua escrita, mas em “Cajarana” expões-te muito mais. Concordas?
Sim, porque me estou a representar. É diferente do contexto da banda. Em Linda Martini, as letras também têm muito de mim, mas há sempre uma certa preocupação em não ser totalmente pessoal. Não falo de coisas que os outros não se sintam representados. Mas também nunca tive muito pudor ou nunca pensei se me estou a expôr ou não. E por mais pessoais que as palavras sejam, cada pessoa que ouve tem uma interpretação diferente, adaptada à sua realidade e imagem, portanto, nunca me exponho demasiado. Também não faço auto-censura, mas, neste contexto, a única questão é que só me estou a representar a mim. Há determinados assuntos que talvez tenha explorado mais no meu disco, não que não o tivesse feito antes, mas seguramente não o fiz da mesma forma.
Este disco ajudou-te a descobrir mais coisas sobre o André?
Todos os discos ajudam. Primeiro, descobres os teus limites e as tuas virtudes enquanto músico. Nunca estudei música, sou músico um bocado por acidente e pelas circunstâncias da vida, sou um músico de ouvido [risos]. Em cada disco tento sempre ir um bocadinho para fora de pé, tento empurrar as paredes e perceber o que posso fazer que ainda não fiz. Ou fazer o que fiz, mas de maneira diferente. Cada disco é, de facto, um processo de descoberta. É um lugar-comum dizer-se que fazer canções e escrever letras é terapêutico, mas a verdade é que é mesmo, porque há coisas que surgem quando estamos no processo de composição e de escrita porque estamos a pensar nelas, não há nenhum acto divino. Estás a trabalhar e muitas vezes há coisas que vêm do nosso subconsciente que não se controlam. E isso também serve de auto-análise, logo, também é uma espécie de descoberta.
A grande diferença é que numa banda as vitórias e as angústias são todas partilhadas
O facto de escreveres para outros artistas, como é o caso da Cristina Branco, influenciou-te na composição deste disco?
Teve bastante influência. Assim como se não tivesse mudado de vida este disco nunca teria acontecido, também não teria surgido se não tivesse começado a escrever para a Cristina e para outra malta. No contexto da banda fui descobrindo o gozo de escrever, mas em Linda Martini, normalmente, as canções partem de um riff ou de uma melodia na guitarra e só depois de conseguirmos cozinhar uma estrutura é que penso na letra. Quando começo a escrever para outros intérpretes, de tudo o que lhes mandar, normalmente uma voz e uma guitarra, a única coisa que provavelmente sobrevive é o texto e a melodia que desenhei com a voz, porque tudo o resto pode dar a volta ao boneco e posso nem sequer reconhecer a canção, pois há outros músicos envolvidos, outros instrumentos. Essa ideia de o texto ir à frente e conduzir a canção foi a maneira que utilizei para as canções de “Cajarana”. Essa forma diferente de compor, que utilizei para outras pessoas, é que me ajudou a desbloquear este processo. Enquanto em Linda Martini invisto muito tempo em encontrar um riff e fazê-lo funcionar, aqui era uma história, e, quando agarrava na guitarra, era sempre no sentido de acompanhar aquilo que a história contava. Foi uma experiência quase cinematográfica, quase como fazer uma banda sonora para o texto que tinha escrito.
Já estás a pensar no segundo disco?
A pensar, estou. Acho que é inevitável pensar nisso e gostava de continuar a fazer discos a solo. Mas este ano estive mais ocupado com Linda Martini, temos estado a fechar umas canções e não tenho datas, limites ou ideias do que possa ser o segundo tomo. Mas gostava de fazer qualquer coisa. E gostava que não fosse igual! Não sei se com as mesmas pessoas, os mesmos instrumentos… Depois destes anos todos, estou muito pacificado com a ideia de não ter de forçar a composição. Agora estou numa fase de serenar, ler uns livros, ver uns filmes e deixar a coisa mexer. Há-de haver uma altura em que me vai dar a vontade de voltar a fazer canções.
Estás em paz com a alcunha de criança, caso contrário não a terias escolhido para título do teu primeiro disco…
A alcunha não perdurou no tempo. É mais uma memória da história que me contam. Devia ter uns quatro ou cinco anos. Chegava a casa muito triste, quase de lágrimas nos olhos a dizer aos meus pais que os meus amigos me tinham chamado Cajarana na escola. É uma questão de identidade. Quando és miúdo ficas ofendido se te chamam qualquer coisa que não o teu nome. De repente, meto-me nisto de fazer um disco fora da minha banda e é, de certa forma, um grande ponto de interrogação ao nível da identidade. «Quem sou eu? Um disco de André Henriques vai soar a quê?». Esta coisa de questionar a minha identidade é que me levou a buscar essa memória do Cajarana.
Pegando nesse tópico da identidade e olhando para os concertos, já estás mais habituado a ser o frontman? Uma vez que em Linda Martini o protagonismo em palco é repartido.
No início tinha mais problemas, agora já não. Era uma pressão que me causava algum incómodo, não sabia como ia reagir. A grande diferença é que numa banda as vitórias e as angústias são todas partilhadas. Num contexto de disco a solo é completamente diferente, o bilhete tem o teu nome, é uma coisa muito estranha e que me causava alguma ansiedade. Mas tenho lidado bem com isso. Os primeiros concertos foram com banda, estava muito bem acompanhado e deu para partilhar as alegrias. É claro que o foco está em mim, a começar pelo desenho de palco, em que estou no centro, ao contrário do que acontece em Linda Martini. Também tenho mais espaço para falar sobre as canções, para me dirigir ao público. Mas agora mais recentemente é que foi a prova dos nove, pois estou a fazer concertos a solo, só voz e guitarra. É completamente diferente. Principalmente se der uma nota ao lado ou fizer uma coisa menos direitinha, o que é completamente normal, ainda mais para mim que venho de uma escola do punk e do hardcore. Mas, estando sozinho em palco, sente-se uma tensão maior. Mas também é uma grande lição ter esta experiência ao fim destes anos todos. Foi um choque grande no início, mas já tive momentos muito bonitos. Ainda agora dei dois concertos no Festival Inventa – Ciclo de Música ao Luar, um em Paredes e outro em Cinfães, em parques naturais, sítios lindíssimos. O problema é que choveu e tivemos de mudar tudo à última hora. O concerto mudou de sítio, atrasou mais de uma hora, eu estava afónico e pensei que estava tramado… Era um dos primeiros concertos a solo que ia fazer, as pessoas estavam há duas horas à espera… No final de contas, foi dos concertos mais bonitos que dei na minha vida. A casa estava cheia, as pessoas foram muito calorosas, perceberam que a minha voz não estava bem, mas isso não influenciou em nada. Um concerto só de voz e guitarra é diferente, é quase uma conversa com um tipo que está ali à tua frente. As pessoas percebem e sentem essa intimidade, entram no jogo e a forma como se disponibilizam para estar contigo também diferente. Cria-se uma energia completamente diferente daquilo que é um concerto com banda. Isso também foi muito interessante de descobrir.
A pandemia roubou exposição ao teu disco. Achas que ainda terás tempo de o mostrar a ainda mais pessoas em palco?
É tudo uma incógnita. O que é novidade hoje já não é amanhã. O disco saiu a 13 de Março de 2020, dois ou três dias antes de irmos todos para casa. Foi um azar tremendo, porque o disco podia ter tido logo uma vida de concertos e não teve. A pandemia atrasou, mas, mais lentamente ou não, as canções têm chegado e estou a conseguir ter pessoas despertas para o disco. Vamos ver o futuro, o próximo ano… Talvez tenha mesmo de fazer um segundo disco para poder tocar nessa altura, não sei [risos]. Mas também somos de outra geração, para nós, um disco não dura um ano. Por vezes descubro discos de 1970 que nunca tinha ouvido e que são incríveis… O meu saiu quando tinha de sair e não tenho ressentimentos em relação a isso.
Já tens a tua “Casa na Praia”?
[risos]. Estamos numa fase de transição. Já estou cansado de Lisboa. Felizmente tenho um trabalho, não só na música, mas o que é relacionado com a escrita criativa que me permite trabalhar à distância, portanto, não tenho uma razão forte para continuar a estar aqui. Depois, com os miúdos, a vida pede outras vistas. Acho que me vai fazer bem sair daqui.
Próximas Datas:
25 Junho – Teatro José Lúcio da Silva – Leiria
26 Junho – Día da Música, Santiago de Compostela [ES] (SOLO)
27 Junho – Centro Cultural de Chaves – Chaves (SOLO)
23 Julho – Lux Frágil – Lisboa (SOLO)
26 Agosto – Ovar