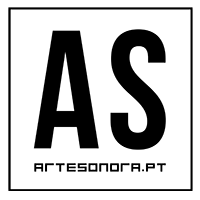Fernando Ribeiro em entrevista com a AS sobre “Hermitage”, um álbum que, à beira dos trinta anos de carreira dos Moonspell, revoluciona a banda e a transporta para uma nova sofisticação e era sónica.
Estávamos em 2018 quando a AS visitou o “Inferno”, o nome que os Moonspell deram ao seu estúdio. A razão da visita ao covil da banda era para falar com o Ricardo Amorim, assim que nos surgiu a ideia de reunir numa edição histórica dez grandes guitarristas portugueses.
A redacção da AS já foi paredes meias com o estúdio, portanto, ao chegar, vendo a porta entreaberta, entrei e dei com o Pedro Paixão a captar algumas linhas de guitarra do Ricardo. A banda tinha editado “1755” uns poucos meses antes, por isso e pela estética e corpo sonoro do que estava a ouvir, no qual os dois músicos trabalharam mais um pouco, pensei que fosse algum trabalho paralelo. Jamais pensei que era, na verdade, a fundação estrutural de “The Greater Good”, que reconheci imediatamente quando o single estreou (versão não censurada aqui).
Refiro este episódio porque acaba por ser elucidativo da enorme ética laboral daquela que, goste-se ou não, é não apenas a maior banda nacional no metal, mas a maior banda nacional se pensarmos globalmente. Os Moonspell estavam em pausa entre digressões, saboreavam o sucesso do álbum conceptual sobre o grande terramoto de Lisboa, afinal “1755” foi o álbum de heavy metal com maior número de vendas durante vários meses após a sua estreia, em Novembro de 2017, e aqui estavam já a trabalhar em “Hermitage”, que acaba de estrear no dia 26 de Fevereiro de 2021. Mais, não se tratava apenas de um álbum novo, mas de um álbum que, como pude testemunhar e qualquer um facilmente perceberá a ouvi-lo, se propõe, uma vez mais, a reinventar a banda.
Conceptualmente, o álbum torna a debruçar-se, entre outras coisas, sobre o Catolicismo. Algo que Fernando Ribeiro assume sem assombro na conversa com a AS. «O assunto sempre esteve de alguma forma subjacente em relação à estética do que os Moonspell fizeram e a partir do “Sin” é mesmo muito evidente. Desde que comecei a estudar filosofia que me coloquei num polo mais afastado, cada vez mais, daquela interpretação black metal, na minha opinião muito mais superficial dos mitos, dos dogmas, das vantagens e desvantagens da religião cristã na sua forma católica. Fui lendo hagiografias e em 2017 já havia uma imersão nesse assunto, na teodiceia, um assunto base do “1755” e também do final do século XVIII. Se Deus realmente teve alguma intervenção», afirma o frontman da banda.
Foi por aqui que começámos a conversa com Fernando Ribeiro sobre o 12º álbum da discografia dos Moonspell. A maturação pessoal e musical caminham de mãos dadas em “Hermitage”, confessa o vocalista. «As peças foram-se juntando na minha cabeça e só será estranho porque dentro do heavy metal, normalmente, as pessoas têm uma visão muito cliché, que os músicos também propagam, da religião cristã. É muito polarizado. Há quase uma obrigação estética de usarmos e abusarmos e dizermos burrices sobre a religião e os santos, etc., que é uma coisa que me interessa bastante historicamente, filosoficamente. É um assunto estético. Muitas pessoas o trabalham. Provavelmente no metal trabalham-no mal. Já não consigo aturar aquela blasfémia fácil, aquelas coisas que andam a ser repetidas e papagueadas há imenso tempo, o necro, o satânico… Os Moonspell, mesmo nos seus tempos mais ocultistas, sempre tentaram ter uma visão muito mais intelectual e essa visão foi gradualmente mudando em mim».
Os eremitas não são coisa exclusiva nem inventada pela religião católica. Digamos que os santos católicos são as rockstars
“Apophothegmata” [um dos temas] remete para um codex que reúne histórias e sabedoria que descreve a prática espiritual dos primeiros ermitas cristãos que vivam no deserto egípcio…
Entre os eremitas há uma grande variedade e não é uma coisa exclusiva nem inventada pela religião católica. Digamos que os santos católicos são as rockstars, até o Santo António do Deserto que aqui em Portugal chamamos Santo Antão, o que dá um ar mais evil [risos]. É um assunto que me tem deveras interessado. Não o consigo debater com ninguém da área do metal, hoje em dia é difícil debater seja o que for, não há massa cinzenta, não há vontade. Este álbum acaba por ser diferente e, provavelmente, mais interessante ao usar todo esse imaginário e ao recuperar as histórias perdidas, não só dos santos, mas também de alguns eremitas mais contemporâneos que tiraram uma pausa do mundo e dos seus objectivos para, metaforicamente, ir combater os seus demónios. Hoje em dia, os nossos demónios são todas as pessoas à nossa volta, todas as pessoas que entram na nossa casa, salvo seja, por um ecrã, e qualquer pessoa que debate a tua música de uma maneira que não é construtiva. Não estamos a mandar as pessoas para o deserto, mas a especular ou a trabalhar numa certa redução da velocidade das opiniões, das expectativas, tudo isso… Acho que é o nosso álbum mais adulto.
Sendo objectivo do eremita retirar-se do mundo de modo a obter a ascese ou a epifania, a proposta do “Hermitage” é servir de veículo intermediário a esse exercício, ser a música o eremitério para o indivíduo?
Acho que a música já teve essa função, de ser o nosso lugar secreto, de ser um refúgio. Nos anos 80 e 90 fechávamo-nos, literalmente, no quarto a ouvir música, sem outro tipo de distracção. Hoje em dia, sem qualquer tipo de juízo de valores, é muito difícil a música ser o único centro de atenção. E a própria música também se tornou muito funcional. O “Hermitage”, de facto, não é um disco assim. É difícil de ouvir até no carro. Vejo os discos como uma proposta. O que a pessoa fará com essa proposta já depende só de si. Desde o momento em que entramos em estúdio, fazemo-lo com a intenção de partilhar a nossa música da melhor maneira possível. Depois, pode haver muitas interpretações do “Hermitage” e é bom que haja, mas não é um disco com pontas soltas.
O álbum começa por parecer algo despojado e depois vai crescendo, revelando muita exploração musical…
O disco cumpre com a sua função musical. Não é formatado, não vai ao encontro de um determinado gosto e isso era um dos requisitos da composição: não ser um disco sólido de heavy metal. O “1755” é um pouco assim, em que os ponteiros estão todos a bater no fundo, há uma grande urgência e está toda a gente a tocar muito rápido, tudo a dar todas as notas possíveis e depois há ali uma série de camadas. Nesse aspecto, quisemos usar de alguma simplicidade, fazer algo com menos camadas, menos espesso. Tirar o operático, tirar os convidados, tirar os vocais femininos e reduzirmo-nos um pouco ao formato banda. Começámos a compor ainda em 2017, ainda muito em cima do “1755”, tínhamos músicas como a “The Hermit Saints” e a “Entitlement” e, logo aí, fiquei entusiasmado com aquilo que o Ricardo [Amorim] e o Pedro [Paixão] estavam a apresentar. Porque se relacionava com uma conversa sobre nos querermos libertar, e eles em especial, de algumas amarras que sentia eles terem. E estas amarras tinham que ver um pouco com essa preocupação com os fãs. Chegámos a 2019, já com o álbum a metade, e disse-lhes: «Não tenho autoridade para vos dizer isto, vocês é que são os doutores da música, com o ouvido e o know how, mas eu sou um gajo de instinto», essa é a minha principal função nos Moonspell, o sentimento, e disse que estávamos à beira de alguma coisa, mas que não estávamos ainda lá. Aí houve uma libertação e começaram a fazer as músicas de uma forma menos formatada, não olhando tanto às estruturas que os próprios Moonspell costumam utilizar e isso tornou o disco muito mais fluído. Assim sendo, vai encontrar no receptor diversas formas de o entender. É um disco mais insinuante. Provavelmente é um daqueles discos que daqui a uma década irão ajudar a escrever a nossa história, afinal marca no nosso sentimento dos Moonspell algo de diferente para novo.
O Ricardo já gravou muitos discos e neste esteve, provavelmente, no seu melhor. Por não se sentir limitado, nem por ele próprio nem por ninguém. O mesmo para o Pedro.
“Solitarian” e “Without Rule”, por exemplo, são temas com muita experimentação atmosférica, muitos cruzamentos de diferentes texturas, chegando a roçar o rock progressivo e o psicadelismo. Isto exigiu muito trabalho de pré-produção e produção?
Diria que foi mais um trabalho de mentalização, a partir dessas conversas que tive com o Pedro e o Ricardo (somos o núcleo duro dos Moonspell), para se libertarem e revelarem às pessoas toda essa gama de recursos que possuem e que está muito mais explorada no “Hermitage”. Não que as coisas funcionem assim nos Moonspell, mas por vezes o meu papel também é pressionar os botões certos para as pessoas aumentarem a auto-confiança e a responsabilidade, para se libertarem. O Ricardo já gravou muitos discos e neste esteve, provavelmente, no seu melhor. Por não se sentir limitado, nem por ele próprio nem por ninguém. O mesmo para o Pedro. Claro, eles trabalharam muito na música, houve muitas versões, mas a nível de pré-produção não foi algo tão apurado ou tão detalhado como havia sido com o Jens Bogren ou com o Tue Madsen. Até o Pedro, que é mais ligado a esses momentos da banda, ficou surpreendido por o Gomez [Jaime Gomez Arellano] não vir revolucionar as estruturas das músicas. É mais um produtor do som e de extrair-lhe a alma, para a tornar mais visível. Mas isso sempre disse, o Gomez é um leão e precisa de estar no seu território e lá conseguiu realmente coisas a nível de som e performance que foram extremamente importantes. O álbum é o resultado de algo que começou em 2017 e que foi sendo apurado. Encorajei muito a existência de instrumentais, de momentos para, a tocar ao vivo, poder descansar [risos]. A sério, acho que o disco, desde os primeiros sons de “The Greater Good”, aponta logo para algo que chama a atenção e que depois é uma espécie de transporte, até à “City Quitter”.
A própria voz procura evadir-se daquela sensação one-trick pony. Como preparaste este trabalho, nesse particular?
Desde o “Extinct” e, principalmente, desde que gravei com o Jens Bogren, ele foi uma pessoa que me deu confiança para trabalhar mais a minha voz cantada, para trabalhar mais a minha voz melódica. Depois apareceu o “1755” que, para mim, era de caras um disco gutural. Já neste, vi logo pelas melodias e tudo isso que, a nível vocal, era preciso evoluir e procurar ser tão interessante como a música que estava a ser feita. Houve um trabalho muito grande. Estudei muito. Tive aulas de canto com o meu vocal coach, o Paulo Ramos [Led On]. É uma pessoa que, só de ouvir a sua voz no telefone, no Skype ou pessoalmente, nos inspira imediatamente. É um grande cantor e um grande professor. Tive várias aulas com ele e além daquilo que são os exercícios tradicionais para melhorar o ouvido, melhorar o alcance e a dinâmica – estou a cantar com uma dinâmica completamente diferente, até mais suave para controlar mais a afinação e a colocação – muitas vezes levava o disco, as maquetes, e íamos cantando as coisas. Ensinou-me muita coisa e vem, aliás, creditado no disco. Até porque, mesmo em estúdio, cada vez que tinha uma dúvida recorria a ele. Tentei arranjar a minha própria paleta vocal, para não ter só aquelas duas cores gutural/limpo.
Um instrumentista, pode fazer isso mais facilmente. Mantendo a sua técnica, pode alterar a sua voz recorrendo a diferentes pedais, amplificadores. Obviamente, há também efeitos vocais e diferentes microfones…
Por exemplo, as vozes do “The Greater Good” podiam ter sido feitas em vocoder, mas optámos por dobrar os vocais e o Gomez trabalhou a sua colocação na faixa, para recriar organicamente o efeito. Os vocalistas também podem fazer isso. Não sou uma pessoa muito ligada à técnica. Aprendo, mas não tenho nada para ensinar a nível de voz. Acho que o vocalista tem que ter uma boa mente, forte, porque muitas das vezes somos o bombo da festa da banda, afinal a voz pode levar as canções para outro nível ou não. Conselhos do Paulo, era ser eu próprio, cantar aquilo à minha maneira. O que não gostasse eram depois limadas as arestas. O Gomez deu-me bastante confiança. Até porque o Pedro e o Ricardo são muito exigentes a nível vocal, devo dizer. Fiz takes que para o Gomes estavam bons e depois tinha que ir regravar, devido a pequenos detalhes que eles não gostavam. Mas também, o que é um disco sem uma boa pressão?

É inevitável falar na bateria. O Hugo Ribeiro deixa a sensação de ter promovido uma certa continuidade, em vez de procurar marcar diferenças claras…
Acho que o Mike e o Hugo são bateristas muito diferentes. Nunca ninguém irá saber como seria este disco gravado pelo Mike. Mas aconteceu que não conseguimos resolver os nossos problemas de uma boa forma. Não estive envolvido na escolha do Hugo, vim a conhecê-lo mais tarde, que considero um excelente baterista, com um estilo muito próprio. Entrou numa fase em que o disco já estava pronto mas, pelo menos a mim, parece que emprestou o seu cunho e que tem algumas diferenças para com o Mike. É uma excelente pessoa, com óptima energia. Infelizmente ainda não pudemos criar aquela ligação de estrada. O Gomez adorou trabalhar com ele, por ser um baterista que grava bem e depressa, com imensos recursos. De qualquer forma, respondendo à tua pergunta, creio que os Moonspell foram cada vez mais tendo a sua sonoridade de assinatura, o que terá mais a ver com as guitarras, a voz… Não quero dizer que qualquer baterista podia tocar num disco dos Moonspell, com os ambientes do Pedro. Fazermos os discos entre os três tem sido a grande constante desde o “Irreligious” e o que define mais a sonoridade. Diria que o Hugo tem um grande futuro com os Moonspell e quando gravarmos outro disco pode ser que ele já se mostre como compositor de raiz, porque é uma pessoa extremamente envolvida na composição, ao contrário da maior parte dos bateristas. Há de tudo. O Ricardo também apanhou a banda em andamento e trouxe-a para um nível melhor. Pode ser que aconteça o mesmo, desta vez.
Ao longo dos anos, temos sempre dado esse pulinho ao espaço onde a banda trabalha e, normalmente, para falar com o Pedro Paixão ou o Ricardo Amorim. Impedidos pela pandemia de uma conversa presencial, ligámo-nos com o Fernando Ribeiro via Skype. A entrevista, acima transcrita, está naturalmente editada, para melhor fluidez na leitura e uma apresentação mais clara das ideias fortes de “Hermitage”. Todavia, aos que preferirem, deixamos a gravação da vídeochamada, para ouvirem toda a conversa sem filtros e, se já estão com segundos sentidos, também sem qualquer polémica.