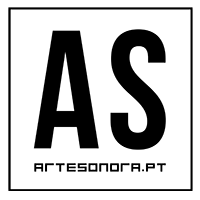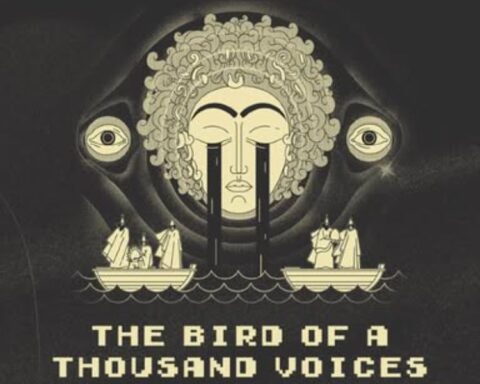NEEV sabe bem o que quer e o que tem de fazer para chegar onde deseja. Se não der para tocar em Marte, Bernardo Neves vai tentar Wembley. Nem que seja com 150 anos. NEEV falou com a AS sobre o que já fez, o que está a fazer e o que sonha um dia alcançar. Sem medos.
NEEV, alter ego de Bernardo Neves, é um jovem compositor, multi-instrumentista, intérprete e escritor que ficou conhecido do grande público português muito por culpa de “Dancing in The Stars”, tema com o qual participou na mais recente edição do Festival da Canção, tendo sido o mais votado pelos espectadores. O que os mais distraídos talvez não saibam é que este cascalense de 26 anos de idade tem, há já algum tempo, uma considerável exposição internacional.
Aos 18, Bernardo foi estudar para Londres. E a vida mudaria para sempre. Senão, vejamos. Em 2015, com apenas 20 anos, assinou o seu primeiro contrato, em Los Angeles. A estreia musical surgiria no ano seguinte, com o tema “Breathe“, num dueto com os noruegueses SEEB (dupla composta por Simen Eriksrud e Espen Berg), que já conta mais de 250 milhões de streamings no Spotify e no Youtube.
Assim começava uma caminhada que o levaria, no mesmo ano, ao Festival Reeperbahn (Alemanha) e, no ano seguinte, ao Eurosonic (Holanda). Jovem no cartão de cidadão, mas com um CV avançado, NEEV despertaria o interesse da Universal Music France e da BMG Germany até que, em 2020, editaria, finalmente, o seu primeiro longa-duração, “Philosotry”, produzido por Larry Klein (Joni Mitchell, Herbie Hancock, Melody Gardot, Tracy Chapman), que um dia se referiu a Bernardo como “o Prince português”.
Durante as gravações de “Philosotry”, NEEV partilhou o estúdio com o baterista Brian Macleod (Sheryl Crow, Leonard Cohen, Sara Bareilles), o guitarrista Dean Parks (BB King, Michael Jackson, Paul Simon, Dolly Parton) e o pianista Patrick Warren (Chris Cornell, Bruce Springsteen, Tracy Chapman).
Influenciado por uma osmose de hip-hop, tradição norte-americana de songwriting e nomes como os The Beatles, Jeff Buckley ou Radiohead, NEEV prepara-se para pisar os palcos com o espectáculo “Uma Odisseia em Concerto”, ao lado de João Barradas (guitarra e teclados), Rui Reis (bateria), Ivo Martins (baixo) e Valter Freitas (violoncelo). Em apenas uma semana, esgotou o concerto do dia 25 de Maio no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Quem o quiser ver e ouvir nos próximos tempos terá mesmo de ir ao Porto, até ao Teatro Sá da Bandeira, onde tem concerto marcado para o dia 2 de Junho.
Quem o quiser ler, basta seguir as próximas linhas, numa entrevista à AS em que o músico se mostra simultaneamente ambicioso, humilde e realista. Tudo, em doses generosas.
Nunca olhei com maus olhos para a minha participação no festival
Era preciso ires ao Festival da Canção para passares a fazer parte do mapa musical em Portugal?
Na perspectiva de quem está de fora, quando existe um momento de impacto e de maior exposição, como é o caso do Festival da Canção, normalmente existem resultados consequentes disso e impulsionados por isso, mas quem está por dentro, como é o meu caso, é tudo parte de uma construção. Não estava nada à espera que o Festival da Canção aparecesse naquela altura, aliás, fosse em que ano fosse, e acabou por ser um desafio que me correu muito bem. Foi uma experiência muito boa e é inegável que ajudou a que certas coisas que estão a acontecer agora fossem possíveis. Todos os artistas têm certos momentos de impacto, coisas que lhes marcam o caminho e que fizeram com que a música chegasse a mais pessoas e, sem dúvida de que o Festival da Canção foi, aqui em Portugal, um desses momentos.
Nunca sentiste mixed feelings por estares a participar numa competição?
Honestamente, se fossem programas tipo The Voice ou Ídolos… Isso são coisas que não me vão ver a fazer na vida, nunca, isso é competição pura. O Festival da Canção não é, no seu cerne, uma competição. E a sua história fala por si, é uma celebração, é diferente. Existe um contexto de competição, mas não sinto que isso seja o principal factor distintivo do Festival da Canção. Aquilo não é um programa de talentos, não é um programa para ver quem ganha, apesar de no final do dia dia haver um vencedor. Mas acho que o evento respira muito mais e vive muito mais como uma celebração da música e, portanto, se existe uma competição, ela é muito amigável, é saudável. Portanto, nunca olhei com maus olhos para a minha participação no festival.
Mas ficaste irritado, tendo em conta que foste o vencedor para o público, mas não o vencedor final?
Irritado talvez seja uma expressão forte… Acho que um país são as suas pessoas e isso é verdade em qualquer país do mundo.
Então, por esse prisma, ganhaste…
Ganhei o que me importava ganhar. Se alguma coisa me interessa ao nível de ganhar seria, sem dúvida, o público. Não luto para agradar a júris, nunca foi o meu foco, não tenho esse tipo de retórica ou feitio, portanto, não me tocou dessa maneira. Sinto que tive várias vitórias durante o festival e as maiores foram acontecendo ao longo do tempo e as quais muitas vezes não se veem. Isso é o que faz com que a música seja tão grande; a música faz as pessoas sentirem uma relação muito forte com a canção, que foi o que aconteceu. Nunca me desviei desse norte e por isso relativizei muito essa questão do júri, da votação. Gosto do simbolismo de ter sido o mais votado do público, por causa do que isso representa, da ligação das pessoas que votaram com a música. A minha missão como artista é essa. Aconteceu de forma genuína e para mim está tudo perfeito.
Foste para Londres aos 18 anos de idade. Esse momento mudou a tua vida totalmente, não?
Mudou bastante. Desde miúdo que queria ir viver para Londres. E, de facto, mudou a minha vida, porque me deu mundo. As experiências que nos dão mundo dão-nos perspectiva e tendem a mudar-nos, exactamente porque nos abrem a cabeça. Mostram-nos que a bolha em que vivíamos até aí não é representativa daquilo que é a realidade, daquilo que é o mundo, crescemos muito com isso, criamos empatia, descobrimos coisas em nós que não conhecíamos e, nesse sentido, a minha experiência em Inglaterra fez-me viver tudo de uma forma muito intensa e espontânea. Aprendi muita coisa, mudou muito a minha forma de ver as coisas.
E foste rápido a alcançar alguns feitos, como contratos internacionais. Procuraste isso ou simplesmente vieram ter contigo?
Foi uma combinação das duas coisas. No final do dia, há uma grande dose de sorte, mas também só a tem quem a procura. Quando estava em Londres aproveitei para trabalhar muito na minha música e tive a oportunidade de contactar com pessoas que foram extremamente importantes nesse processo e as oportunidades acabaram por surgir. Também nunca tive medo de falhar. Gosto muito daquele ditado que diz: «Falha para depois falhares melhor». Sempre tive isso em mente. Nunca tive medo de ir para a frente, se acredito numa coisa, vou, e acabou, seja o que for. E não há plano B. Sempre fui uma pessoa de plano A. Com tudo de bom e de mau que isso já me trouxe. As coisas acabaram por acontecer. É um processo. Aprendo sempre com tudo o que me acontece. Mas acho que o facto de viver as coisas de forma tão intensa e sempre a 200%, mais o espírito de sacrifício e de trabalho, isso leva as pessoas muito longe. Não me considero uma pessoa especialmente talentosa, mas sempre achei que quando alguém se encosta ao seu talento, essa pessoa começou oficialmente a sua espiral negativa. A partir daí, não há maneira de subir, acabou. Sempre me apoiei no trabalho, ser o primeiro a chegar e o último a sair. Gosto de acreditar que tudo o que vem, vem especialmente daí.
O clique no teu trajecto começa com aquele tema com os SEEB?
Esse é capaz de ter sido o maior momento de impacto que já tive até agora na minha carreira. Abriu-me montes de portas e pôs o meu nome em sítios onde se calhar não estaria hoje.
Nunca tive um mentor, mas sem dúvida de que o Larry Klein foi das pessoas com quem mais aprendi na vida
Ouvires alguém como o Larry Klein referir-se a ti como o “Prince português” faz-te encher o peito, ficas com algum medo, dada a responsabilidade, ou sorris, agradeces e segues em frente?
É um misto. Não me enche o peito, porque não me deixo encher com essas coisas, fico muito grato, e essa é a parte do sorriso. E medo não tenho. Não há ninguém neste mundo que exija mais de mim do que eu próprio. E não há qualquer tipo de responsabilidade que alguém ponha em cima dos meus ombros que eu já não tenha posto anteriormente. Nesse sentido, é-me difícil sentir um peso quando é posto por outras pessoas. Não tenho a ambição de calçar os sapatos de outra pessoa, nem de estar à altura de ninguém, quero ser o mais que possa ser e nunca menos do que já sou. Caberá à História e às outras pessoas fazerem a análise do que foi esse meu caminho, mas, para mim, é simples, é trabalhar todos os dias para ser 1% melhor e talvez esses 1% todos juntos vão dar alguma coisa realmente grande. A música tem é de ser boa. As coisas são normalmente muito mais simples do que pensamos e gosto de olhar para isto com simplicidade. Isto é complicado, mas não é complexo. Quero tentar ao máximo fazer boa música. E partir sempre do pressuposto de que estamos errados. Isso só faz com que melhoremos, faz com que tenhamos os pés bem assentes na terra, mas sem nunca perder a capacidade de sonhar alto, isso é a pior coisa que pode acontecer a seguir a encostarmo-nos ao talento. Quando isso acontece, fica-se com medo de perder o que se conquistou, medo de perder aquilo que se acha que se tem, mas que por vezes nem sequer se tem, e medo, medo. Gosto de viver a música sem medo.
Gravaste o teu “Philosotry” no mítico estúdio Sunset Sound, em L.A.. Como é que surgiu esta hipótese?
Quando estava no processo de pré-produção, disse ao meu manager que gostava muito que o Larry Klein produzisse o álbum. Ele riu-se, mas também é maluco e disse logo: «‘Bora tentar». E foi tão simples quanto mandar um e-mail. O Larry gostou e uma semana depois estávamos a falar ao telefone.
Foi fácil trabalhar com um monstro como o Larry Klein?
O Larry é da velha guarda e não se rege por aquilo que boa parte das pessoas de hoje em dia se regem. Cresceu com outros princípios, numa altura em que a música era um bocadinho diferente do que é agora. Esta coisa de uma pessoa querer fazer uma colaboração com alguém e julgar o valor dessa colaboração com a quantidade de listeners no Spotify ou de likes no Instagram é uma coisa muito presente na minha geração, uma coisa horrível, devo dizer. O Larry não tem essa cultura, gostou do que ouviu e quis conhecer-me. Adoro o trabalho dele e a atitude dele foi também uma lição de humildade, de humanismo e de igualdade. Somos todos pessoas, ninguém aqui é alien, nem dono de uma verdade absoluta, ninguém é melhor do que ninguém, simplesmente uns têm umas oportunidades e outros têm outras. Aprendi imenso com ele. Nunca tive um mentor, mas sem dúvida de que o Larry foi uma das pessoas com quem mais aprendi na vida, principalmente a nível humano, mais até do que a nível musical, embora também tenha aprendido muita coisa nesse capítulo.
Portugal ainda tem uma série de passos a dar em relação a algumas coisas
Partilhaste o estúdio com grandes nomes. Deste-lhes indicações ou simplesmente deixaste-os seguirem os seus instintos?
No primeiro dia, fiquei um pouco acanhado, mas no segundo já me estava completamente nas tintas, já dava dicas, dizia que não queria de uma determinada maneira, mas à minha maneira. Houve alguns momentos de tensão, mas isso é perfeitamente normal quando se está em estúdio. Estamos muito mal se nos vergamos ao pé de determinadas pessoas só pelo que elas fizeram ou pelo que são. Uma coisa é ter respeito, outra coisa é ficarmos deslumbrados. Não sou um tipo deslumbrado. No final do dia, tenho de defender a música e não pensar em satisfazer as outras pessoas, independentemente de quem são. Com base nisso, fiz o que tinha a fazer.
Achas que era impossível conseguires este som e esta plástica gravando fora de Portugal?
É uma questão de cultura. Portugal ainda tem uma série de passos a dar em relação a algumas coisas, tal como outros países têm, inclusivamente os Estados Unidos. Não acho que conseguiria gravar este disco em Portugal, por uma questão cultural. Aquilo que está na génese do ouvido dos músicos americanos é diferente, cresceram com outro tipo de música, outro tipo de sonoridade. Se quisesse fazer uma coisa mais edgy tinha ido para Inglaterra, que é outra cultura. Lembro-me de estar no estúdio e o baterista [Brian Macleod] chegar com um camião TIR cheio de equipamento. Recordo-me de, no primeiro dia, quando cheguei, o guitarrista [Dean Parks] estava a tocar com uma Gibson Les Paul e, na minha inocência, pensava que era a única guitarra que ele tinha levado. Virei-me para o Larry e disse-lhe que não estava a sentir muito aquele tone, não me parecia a cena certa para aquela música… O Larry riu e disse-me: «Vai lá dizer-lhe isso!» Fui em pezinhos de lã e disse-lhe. E ele, super humilde, disse-me para escolher uma guitarra. Então, abri uma caixa gigantesca carregada de guitarras, de todos os géneros e feitios. Acabou por ficar uma Gibson SG. O que quero dizer é que ele sabia ao que ia, preparou-se e levou muito material para gravar. E essas coisas fazem bastante diferença. Senti-me mais do que feliz por pagar àqueles músicos de sessão que me deram tanto. Esse tipo de cultura ainda está para ser desenvolvida em Portugal. Também tem muito que ver com a forma e o espírito como se colabora lá fora, a própria hierarquia no estúdio, que existe e muito, mas é algo que está tão cimentado na cultura que acaba por ser sempre um trabalho colaborativo espontâneo. E isso cá não acontece. É muito diferente. Ainda temos muitos passos a dar.
Meteste-te muito na produção do disco e na componente mais técnica?
Bastante. O álbum demorou muito a produzir, passei anos a produzi-lo e por isso havia músicas em que sabia exactamente o que queria. Por isso, em estúdio, discutíamos desde o tipo de guitarra para cada tema, que é uma discussão supérflua mas normal e óbvia, até à escolha e posicionamento dos microfones. Fomos sempre ao pormenor e envolvi-me sempre nessas discussões e decisões. Lembro-me que quando estávamos a gravar a “Anne Marie”, e sabia exactamente o que queria nessa canção, ficámos horas a escolher o ride. Não consigo dizer qual é que ficou, mas sei que queria um ride pesadão e seco e que tivesse transiente, mas sem muito sustain. Até o baterista já se estava a começar a sentir mal por não ter a solução. Aí, senti o Larry a pôr-me à prova; mandava-me ir ter com os músicos para lhes dar as minhas indicações, naquela de ver como é que me safava. Quando fazia algo mal, ele corrigia-me, foi um processo muito pedagógico.
Que instrumentos gravaste?
Gravei todas as guitarras acústicas, gravei algumas guitarras eléctricas, algumas coisas de percussão, tudo o que é vozes, mandolins, lap steels, pianos e grande parte dos teclados. Na “Calling Out” usei uma guitarra Solid Body da Gretsch, na “Come on People” e nos temas mais edgy usei uma Gretsch Chet Atkins, muito louca, uma guitarra muito fixe, até quis ficar com ela, mas quando me disseram o preço descobri que não queria [risos]. Também usei uma Harmony, eishhhhhh, adorei aquela guitarra, de tal forma que ando à procura de uma há uma série de tempo, mas ainda não encontrei. A guitarra acústica foi sempre uma Martin D-28 bem antiga, toda sêca, sêca! Quanto ao piano, não encontrámos um acústico de que gostássemos e então foi tudo pianos digitais (plugin). O Larry prefere não gravar pianos e, de facto, gasta-se sempre muito dinheiro e nem sempre fica como queremos.
Qual o instrumento que marca este disco de forma única?
Curiosamente, escolheria a minha guitarra acústica, uma Takamine, com a qual não gravei, mas na qual compus o disco praticamente todo. Foi a minha primeira guitarra, não é nada de especial, mas há um elo emocional. Se me falares em qualidade, não escolho essa, mas se me perguntares pelo instrumento que nunca vou largar e que tem tudo que ver com este disco, é essa guitarra. E é a que uso ao vivo!
Por falar em concertos, o que é que o público pode esperar da tua “Odisseia”?
Uma viagem, é mesmo uma viagem e o título fala por si. O meu objectivo foi mesmo criar uma viagem, pois sinto que o álbum é isso mesmo. O concerto vai além das músicas do álbum. Não sou grande fã de quando os artistas começam a mudar as suas músicas, adoro ir a um concerto e ouvir a música tal e qual ela é, mas também gosto quando me dão algo mais, quando se vê que investiram tempo para fazer uma coisa especial. E é isso que transporto para a minha cena. Gosto de tocar as músicas como elas são no seu core, dar boas performances musicais, mas também gosto de criar à volta delas, com intros, altros e momentos diferentes. É isso o que as pessoas podem esperar da minha “Odisseia em Concerto”.
Imagino uma carreira em Marte
Os próximos concertos são a 25 de Maio no Teatro Maria Matos, em Lisboa, já esgotado, e a 2 de Junho no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Não quiseste arriscar marcar uma segunda data em Lisboa?
Às vezes, ter uma sala esgotada não significa que haja arcaboiço para fazer uma segunda data, mas existem planos para o futuro e tendo em conta esses planos é interessante ir um passo de cada vez.
Sentes que o teu disco poderá ter-se perdido no tempo devido aos atrasos no lançamento?
A resposta feita seria que a música é imortal e todas essas coisas giras. Mas essa não é a resposta e tudo tem um ciclo. Acho que o ciclo deste álbum está a chegar ao fim e já está em tempo cronometrado. Está nos descontos, o que me deixa triste, porque o álbum foi apanhado por esta cena da pandemia e tudo se atrasou e limitou muita coisa, mas é o que é. Por isso ando a escrever coisas novas já há algum tempo. Estes concertos marcam uma espécie de fim de um capítulo.
E o próximo disco terá uma linha condutora mais coerente ou será como este, que parece saltitar um pouco entre estilos?
Tenho um álbum na cabeça, que não sei se vai ser o segundo ou terceiro, que, nesse sentido, vai ainda mais longe do que este “Philosotry”. Mas não sei se isso vai acontecer já no próximo. Não sou gajo de muitas regras e a música é que manda. Para ser honesto, naquilo que estou a fazer agora existe muito mais um fio condutor, porque também tem que ver com o contexto e com a forma como as coisas são escritas.
Para onde queres ir agora? Portugal é pequeno para ti?
Imagino uma carreira em Marte [risos].
Uma Odisseia em Marte?
Exactamente. Adorava. Mas ainda não dá. Tenho de mandar uma mensagem ao Elon Musk a perguntar quando é que é possível. Ou se me quer assinar em Marte [risos]. A História dirá até onde é que posso ir, mas quero ir até ao fim, seja lá isso o que for. Não tenho limites, sou um bocado maluco! Noutro dia estava a dizer a um amigo, em tom de brincadeira, que só parava em Wembley nem que tenha 150 anos. A minha cabeça funciona assim. Há sempre espaço para música boa que, na minha opinião, está um pouco em vias de extinção. Este é um jogo onde não há regras, a única regra é tentar fazer boa música. O resto virá.