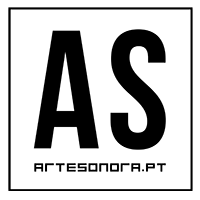Aos 49 anos, Victor Torpedo sente tanta urgência em fazer e partilhar música quanto a que sentia quando era adolescente e tocava nos Tédio Boys. O guitarrista, que acaba de editar “Punk/Pop and Soft Rage”, aproveitou o mundo em pausa para fazer caminhadas, fazer desporto, arranjar uma lesão num pé e compor mais de uma mão-cheia de discos.
Homem de paixões graves. Um gajo do rock and roll com atitude punk, que vive o presente mas com saudades do futuro. Um verdadeiro artista, um romântico que se desdobra entre a música, a pintura, o boxe, o basquetebol e o Tai Chi. E estas são apenas algumas das camadas mais visíveis. Porque há muito mais no mundo de Victor Torpedo, que cedo começou a dar nas vistas.
Em miúdo, cantava no coro da catequese, porque se apaixonou por uma freira. A paixão foi forte, mas passou-lhe. Anos mais tarde, foi tocar guitarra com os Tédio Boys – banda de tal forma influente que daí derivaram nomes como os D3O, os Wraygunn, os Blood Safari, os Tiguana Bibles ou os Bunnyranch. Fez parte de vários grupos até integrar o fenómeno The Parkinsons, um amor que ainda perdura e que um dia o fez mudar-se para Londres e viver o sonho do rock and roll.
Não usa multibanco, nem envia discos para as rádios. Tem Facebook, porque um dia lhe criaram uma conta. Anti-sistema por defeito. Self-made man, porque sim. Garante não ser guru de ninguém, mas espera poder salvar os putos da sua cidade, aqueles que ainda não descobriram a música feita com alma, urgência e tesão. Por isso, um destes dias, vai reunir alguns dos mais talentosos e, todos juntos, levar os seus cinco discos a solo para o sítio onde é feliz, o palco.
O mais recente álbum, “Punk/Pop and Soft Rage” – feito totalmente em casa e editado no dia do seu aniversário (7 de Abril) e que foi lançado como uma espécie de parte dois de um outro chamado “Béri Béri” (2020) -, é o seu “Sandinista”. Ou, como prefere chamar-lhe, uma cena tipo “Bowie em Coimbra”.
Da velha cidade dos estudantes para o mundo, via Arte Sonora, eis o universo multidisciplinar e analógico de Victor Silveira, Victor Clash, Vitinho ou, como é mais conhecido na música cá do burgo, Victor Torpedo.
Como é que um gajo cuja carreira começa na catequese acaba por ser umas figuras do rock n’ roll em Portugal?
[risos] Foi na catequese porque me apaixonei por lá! Se não tivesse sido assim, também não tinha lá ido tantas vezes. Apaixonei-me pela freira, que era a catequista! Sou um homem de paixões graves! Essa freira disse que eu cantava bem e convidou-me para fazer parte do coro. Mas enganou-se [risos]. A minha mãe disse que ela era maluca. Infelizmente, não me lembro do nome dela, só sei que já morreu.
Saíste da catequese directamente para um caldeirão rock n’ roll. Dos Tédio Boys aos The Parkinsons, dos Blood Safari aos Tiguana Bibles. Qual destas bandas fez de ti o homem/músico que és hoje?
A resposta é fácil: foram os Parkinsons. Estava nas sete quintas com esses rapazes…
Já vi alguns gajos com tatuagens dos Tédio Boys e isso é muito estranho. Ainda se pega
Tens saudades das tours com os Parkinsons em Londres e das dos Tédio Boys nos EUA, ou és um gajo do presente e que não liga a saudosismos?
Sou um gajo do presente que tem saudades do futuro. Bate-me mais a saudade quando vejo cenas tipo a que vi hoje no Facebook, uma foto do Fernando Pinto a passear pelo Texas [Fernando Pinto era na altura editor e agente da Elevator Music e responsável por levar os Tédio Boys aos EUA]. Ainda ontem me mandou uma mensagem a dizer que tinha estado em Albuquerque e Santa Fé… e fez-me lembrar cenas. E aí bate um bocadinho! Sinceramente, de todos os sítios por onde andei e de todas as viagens que fiz, os EUA são realmente uma cena à parte. Tenho vontade de lá voltar. Já lá vão uns anitos desde a última vez, e sim, tenho muitas saudades, mas não só por tocar, até é mais pela roadtrip em si, que é uma experiência fantástica.
Ainda no capítulo do saudosismo, vai sair este ano uma compilação da Lux Records sobre os Tédio Boys. O que tens a dizer sobre isso?
Fico chateado. Estava tão descansado em relação aos Tédio Boys… [risos]. Não percebo este tributo, porque vou acabar por entrar no disco. Até perguntei ao Rui Ferreira [Lux Records] que tributo é este onde os músicos da banda também tocam… Só não toco nas músicas todas porque ainda não me chatearam mais, senão… Vou entrar em dois temas, mas não queria! O meu interesse seria receber o tributo! Assim, parece uma “selfie ejaculação” [risos]. Mas a sério, já ouvi e está tudo do caraças, mas tenho medo, porque já vi alguns gajos com tatuagens dos Tédio Boys e isso é muito estranho. Ainda se pega [risos].
Se alguma destas duas bandas [Tédio Boys e Parkinsons] quisesse fazer um regresso, estavas dentro?
Já falaram comigo muitas vezes por causa disso, inclusive o Fernando [Pinto], muitas vezes mesmo, mas disse-lhe logo: no caso dos Tédio Boys, quero 10 mil [euros] à cabeça por cada concerto. Por isso, não há hipótese! É impensável para mim, porque esse é talvez o projecto mais ligado a uma fase juvenil da minha vida e é muito difícil estar a tentar reencarnar outra vez nessa persona da qual já estou um bocado afastado, não musicalmente, mas de toda a fantasia que paira à volta da banda.
Já não ia ser genuíno?
Não ia… É uma viagem muito difícil. Em relação aos outros projectos, nem tanto, há uma linha temporal mais próxima, mas quanto aos Tédio Boys… não…
Toda a gente é cantautor, é tudo muito soft, quando devíamos estar numa fase de fazer música no sentido oposto
Sei que consideras má a música portuguesa que se vai fazendo agora. O que é que lhe falta para ser boa?
Não é só a música portuguesa, é toda, de uma forma geral. Sou um gajo de acção. Não é que esteja à espera de música agressiva, até porque estou noutra onda, mas espero sempre alguma acção, alguma tesão. Isso é que me preocupa. E esta pandemia veio piorar as coisas. Toda a gente é cantautor, é tudo muito soft, tudo feito a medo, quando devia ser o contrário, devíamos estar numa fase de fazer música no sentido oposto. Também não devíamos andar a fazer concertos-teste. Concertos-teste fizemos nós a vida toda! Devíamos era fazer o que nos vem à pinha, sem medos. Dou-me com muitos putos e toco com gajos jovens. Por exemplo, o meu baterista, o Brito; tenho idade para ser quase pai dele. Estou sempre a dar-lhe nas orelhas, e às vezes fico um bocado chocado, até com as influências que eles têm e das coisas que ouvem. Fico perturbado ao saber que putos de 20 e 21 anos estão em casa a ouvir King Crimson… Tudo bem, compreendo que possa haver algum fascínio pela sonoridade, mas estar numa sexta-feira à noite a fumar ganzas e a ouvir Pink Floyd, que nem sequer é o primeiro álbum, que eles nem conhecem isso… é aquela cena de ouvir música técnica… Ainda por cima com a informação que existe hoje em dia. Não percebo.
Achas que as gerações mais jovens valorizam mais o tecnicismo em detrimento da alma?
Completamente. Os putos não correm riscos. É tudo muito direitinho. E é uma pena, porque os putos de agora são músicos extraordinários, mas perdem-se nessa lengalenga, em vez de serem mais instintivos, mais predadores no sentido de fazer música como se não houvesse amanhã.
Ainda sentes urgência e tesão quando fazes música?
Sem qualquer dúvida! Completamente. Sempre. Senão, não faria música. Às vezes até evito tocar, passo dias sem tocar, mas a minha cabeça está sempre a funcionar com música. Se não estiver a fazer, estou a ouvir. Às vezes a minha urgência é de tal maneira forte que numa manhã faço 10 músicas. Por exemplo, o último álbum dos Parkinsons foi feito numa manhã. Todo, letras e música. Às vezes nem quero estar constantemente a ensaiar, precisamente para ter essa tesão. As cenas saem-me melhor quando sinto saudades de tocar.
Sentes essa urgência, mas já não andas à pancada, como antigamente, no tempo dos Parkinsons?
Não… não. Raramente [risos]. Mas também era outro tipo de cenário, outro tipo de revolta. Sentíamos na pele o que era ser estrangeiro. Provavelmente, outras bandas sentiram isso e não aguentaram. Por exemplo, os LX90, quando foram para Londres, imagino o que é que sentiram… Realmente, sem dúvida que fomos muito importantes nesse aspecto, demos a volta às coisas, tornámos o português cool, principalmente em Londres, que tem um circuito muito fechado. Abrimos portas. Éramos vistos como outsiders, mas tudo isso [os episódios de pancadaria] foram uma repercussão dessa atitude de certas pessoas. Abrimos portas e depois disso muitas bandas portuguesas foram lá tocar. Inclusivamente, organizei muitos concertos lá com bandas portuguesas. É interessante porque foram muito bem recebidas.
Quero que a nossa presença seja sentida de vez em quando. E que os putos comecem a ter tino e se rebelem um pouco
Começaste a editar a solo em 2015 e de lá para cá lançaste, em média, um disco por ano. Este é o teu projecto mais importante de sempre na música?
Sim, porque posso fazer tudo como quero, gravar quando quero, com quem quero, e tenho tido muita sorte com a Lux Records, que tem sido determinante para lançar os meus discos. Também é o projecto mais desafiante da minha vida, não só pela forma como encaro o espectáculo, como os discos que gravo. Gosto disso. Gosto deste projecto, porque me deixa muitas vezes fora da minha zona de conforto. Às vezes até de mais [risos]. Para mim é um incentivo, pois leva-me a fazer as coisas de forma diferente. É quase uma destruição da minha própria imagem. Agora tornou-se mais fácil, com o tempo, mas aquela imagem do cowboy solitário do rock que anda na luta… este projecto é um pouco a destruição disso tudo. Desmistifico um pouco aquilo que as pessoas pensam de mim. Nem sempre o que as pessoas pensam de ti corresponde à verdade. Grande parte das vezes, aliás, não corresponde. São poucas as pessoas que me conhecem no íntimo. Só vêm a persona, o artista. Podem achar que só gosto é de festa e filmes… Também gosto! [risos]. Mas não é só isso. Aliás, este confinamento até foi uma bênção para mim, porque pude fazer realmente o que gosto, caminhadas, fazer desporto, que entretanto me valeu uma fascite plantar, que é uma dor terrível na planta dos pés, ainda estou a recuperar. Tenho ouvido muita música, no carro ando a ouvir Dean Martin… debaixo da cama saco do Roy Orbison, sou um romântico! O pessoal deve imaginar que estou em casa sempre a ouvir os Damned, os Dead Boys. Nada disso. Passo isso quando estou a pôr discos num bar, mas no meu íntimo vou para outros mundos. Muito reggae, muito reggae.
Não costumas enviar os teus discos para as rádios. É estratégia ou és mesmo anti-sistema?
Nem é ser anti-sistema, a cena é que estou tão fora disso tudo, acredita. Por exemplo, ontem foi a primeira vez que fiz um pagamento pela internet. Vivo noutra dimensão. Tenho Facebook porque me criaram a conta. Sou um gajo que sai de casa com dinheiro, não pago nada com cartões, não é ser contra, é estar noutro filme. Mas é lixado, porque para pedir apoios, por exemplo, fico sempre de fora, é uma maluqueira, é preciso um curso superior para se saber como se pode pedir apoios ou participar em concursos. Sou um gajo do analógico. Durante a primeira fase do confinamento, quis pedir apoios e não conseguia. A única forma de conseguir falar com alguém foi ir directamente à Segurança Social, mas tive de os enganar, dizendo que tinha mesmo de lá ir porque queria fazer um pagamento. Por isso também não envio discos para lado nenhum.
Às vezes faço tudo com uma urgência tal que gravo um disco praticamente num dia
Voltando então aos teus discos, este “Punk/Pop and Soft Rage” aborda temas como a saúde mental ou a doença do dinheiro. Queres pôr o dedo na ferida de quem?
Não é alertar, pois acho que as pessoas já estão mais do que alertadas. O meu lado é de voyeur. Toda a gente já nos explicou tudo e mais alguma coisa, desde psicólogos a filósofos, assistentes sociais, etc. Já todos sabemos que as reservas de água estão a acabar, que estamos a dar cabo disto tudo. Mas o problema é que olhamos sempre para o lado. E o português é incrível nisso… desde que seja com o vizinho, está tudo bem. A minha visão é diferente. Vivemos muito naquela onda do ‘se está a chover dentro de casa, não mudamos a telha, afastamos o banquinho para o lado para não nos molharmos’. As minhas letras falam sobre isso, de uma perspectiva de quem está a ver, de quem faz parte de uma audiência. Mas isto não vai lá com capas de discos ou palavras bonitas. Também não estou à espera que façam o que digo. Não sou guru de nada. A única coisa que quero é que a nossa presença seja sentida de vez em quando, não peço muito mais do que isso. E que os putos comecem a ter tino e se rebelem um pouco.
Fizeste este disco sozinho em pleno confinamento e à medida que ias fechando os temas ias enviando para o João Rui (A Jigsaw). Foi simples o processo?
Às vezes faço tudo com uma urgência tal que gravo um disco praticamente num dia. Gravei todos os instrumentos, fui pondo alguns efeitos que queria mesmo, só para dar uma noção ao João Rui e não penso muito mais no assunto. Até mesmo na gravação da voz não gosto de repetir 30 vezes, normalmente faço dois takes e já está. A cena tem de sair logo, senão, é porque não está bem. E também porque, como estou a gravar sozinho, tenho mais dificuldades, porque além de estar a gravar os takes, se tiver de repetir muitas vezes, tenho de voltar atrás para parar, apagar, voltar a pôr a gravar… Mas estando essa parte feita, envio para o João Rui. Também gosto de embelezar as coisas, pôr camadas, adoro fazer isso, criar ambientes, mas não gosto que seja muito pensado, não fico uma semana a preparar um overdub. Ouço a música, sei tocá-la e, se não sair na altura, já não sai. É assim que trabalho. Por exemplo, na primeira gravação do Elvis, o gajo foi aos Sun Studios e gravou uma música para a mãe e no final o disco foi prensado e o gajo levou-o para casa. Adoro esse conceito. Gostava de fazer assim.
Usaste muitas guitarras neste disco?
Utilizei duas ou três. Uma Danelectro, a minha guitarra de guerra, uma Chandler 555 e uma Fender Stratocaster.
E de resto?
O normal, mas nas baterias sou terrível. Nem é ao nível dos sons, é a métrica e depois tenho de editar e cortar tudo. É um filme. Por isso é que por vezes vou buscar uns ritmos mais fora, o que também torna a coisa mais interessante. Trabalho muito em cima do erro.
Abusaste muito de efeitos para além dos delays e reverbs?
Só uso mesmo um soft drive (Boss Blues Driver (bd-2)), um reverb (DigiTech), um bocado de delay e às vezes o tremolo da Boss. O meu set é muito simples. Tudo a passar no Vox AC30 com um microfone Shure SM57. Não sei se é como deve ser, é como sinto e sei fazer.
Gostas de mexer no computador quando estás a gravar ou foi algo que fizeste porque tinha mesmo de ser?
Sou completamente autodidacta, aprendi quase tudo sozinho. Não mexo só na parte áudio, mas também faço capas dos discos, vídeos. Até já fiz muitas capas para outras pessoas. Mas tudo muito cru. Utilizo essas ferramentas como suporte do meu trabalho.
Este “Punk/Pop and Soft Rage” é a segunda parte de “Béri Béri”. É o teu “Sandinista” [The Clash]?
[risos] É. Mas posso ir mais longe e dizer-te que em vez de ser “Bowie em Berlim” é “Bowie em Coimbra”. O próximo já vai ser uma onda completamente diferente.
Os próximos, porque sei que pelo menos três já fizeste…
Por acaso, até acho que tenho uns seis ou sete discos já feitos. Mas, por mim, deitava tudo fora amanhã [risos]. Assim, não há editora que me ature. Mas ainda tem de ser tudo mexido pelo João Rui. Entretanto, também gravei mais coisas, gravei um disco com a Tracy Vandal, ela a cantar músicas minhas, que está tremendo! Esse disco está prontinho para sair. De tudo o que tenho feito, esse disco é das coisas de que mais gosto dos últimos anos.
Quando é que voltas a fazer o teu karaoke?
Só quando puder abraçar o pessoal. Só quando puder fazer maluqueiras, fazer o pino e mortais no palco. Assim não dá, não tem piada.
E concertos?
O único projecto dos que participo e que nos próximos tempos vai ao palco é uma cena que tenho com a Vera Mahsati, que é uma bela ideia. Tem vídeo, ela dança e toco instrumentais que fiz de propósito para esse espectáculo. Concertos da minha cena não tenho nada previsto. Mas estou a pensar levar os meus cinco discos para o formato banda, sempre me cortei um bocado a fazer isso, porque é difícil criar a banda, ou seja, fazer com as que músicas sejam da banda, porque há temas que podem fugir um bocado à ideia que tenho para eles, mas vou tentar. Estou tentado em fazer isso, até para salvar uns jovens aqui da cidade, principalmente o meu baterista e os amigos dele talentosos, que andam com a moral muito em baixo. Quando tinha a idade deles também era super ansioso. Quero agitar um bocado as coisas.
Já deixaste o boxe?
Parei, mas estou tentado a voltar. Se bem que ultimamente o boxe transformou-se em Tai Chi e alongamentos. Descobri o Tai Chi e estou vidrado na coisa. O boxe é tremendo, mas o basquetebol é que é a minha doença.
A pintura e a corrente que criaste, o “acidentalismo”, continuam a fazer parte da tua vida quotidiana?
Isso é constante. Nos últimos tempos tenho estado muito ocupado e não tenho tido tempo para fazer um verdadeiro projecto, uma série de quadros com uma lógica. Tenho é feito muita coisa para amigos, muito trabalhinho que engloba sempre a pintura. O acidentalismo é constante, aliás, o acidente é parte da minha vida.
O que aconteceu à tua Coimbra para deixar de estar no epicentro do rock and roll?
Coimbra está sempre no epicentro [risos]. Quer dizer, não a cidade toda, mas há um ou dois sítios que continuam em alta. Por exemplo, uma noite no Pinga Amor… esquece, nem em Nova Iorque! Já lá tive noites de loucura total, de uma demência tal que nem em Londres encontras… O problema é que as pessoas que tentam puxar a cidade para cima são sempre as mesmas, são os velhinhos, eu e mais meia-dúzia de maluquinhos que ainda acreditam nesta coisa. Mas há aqui uma vibração muito forte. Somos todos fora do sistema e não nos preocupamos muito com o que possam pensar sobre nós. Em relação ao resto, os putos estão noutra e os poucos que ainda alinham connosco… há que estimá-los, porque são muito poucos. Mas sim, é difícil, as salas também desapareceram. Mas isso é em todo o país, infelizmente. É chocante, é o novo mundo. Se calhar, os meus putos nunca vão saber o que é uma discoteca como nós as conhecíamos. Agora, acontece tudo no sofá.
“Punk/Pop and Soft Rage” foi gravado por Victor Torpedo, misturado, produzido e masterizado por João Rui (A Jigsaw), tem o selo da Lux Records e está disponível através de encomenda aqui.