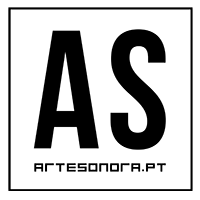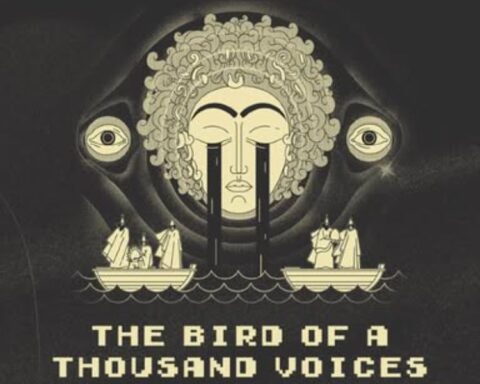Nos bastidores da Fnac, no Chiado, horas antes de subir ao palco do LAV, Kurt Vile contou-nos como foi gravar “Bottle It In” viajando por vários estúdios norte-americanos.
Nas mil e uma coisas que faz na música, Kurt Vile deixa transparecer a ideia de ser um tipo tranquilo, um músico e compositor relaxado. Não no sentido de ser preguiçoso, mas de ter aquela escola laid-back, de ser descontraído. Na conversa que teve com a AS, nos bastidores da Fnac Chiado, onde havia estado sozinho a tocar um par de músicas, munido apenas com uma acústica, à referência de um exemplo como Led Zepellin e a temas como “The Battle of Evermore”, “Kashmir” ou “Achilles last Stand”, que parecem coisas muito trabalhadas enquanto as suas canções parecem surgir num estilo mais simples, o músico de Filadélfia concordou, afirmando gostar «que as coisas sejam naturais e descontraídas e não forçadas», confessando-se um tipo mais afecto ao estilo de fazer as coisas de Neil Young que Led Zeppelin.
Algo que soa perfeitamente natural ouvindo a sua discografia e, particularmente, “Bottle It In”, o seu mais recente álbum, lançado em Outubro de 2018. Há muito de Young nas suaves repetições dos seus dedilhados de guitarra, na cadência do baixo e baterias simples e depois há Dylan nas suas entoações, na sua métrica.
Mas por laid-back não se pense que Vile não é um músico minuciosamente técnico e desenvolto, aliás, as canções de “Bottle It In” dão a sensação de que seriam aborrecidas se interpretadas por músicos menores. É esse o segredo da descontracção de Vile, a forma como se torna cativante a contar histórias normalíssimas, como consegue emprestar melodia ao quotidiano e o faz sem parecer um recitador de YOLOs.
Gravado em vários estúdios e com vários produtores durante os compromissos de digressão do músico, o álbum retém uma unidade considerável. Kurt Vile explicou-nos o processo de gravação, dos músicos com quem tocou e ainda do seu amor por modelos Fender Jaguar.
Neste álbum tiveste que fazer muitos planos, por teres ido a vários estúdios e vários sítios diferentes?
Tinha um plano antes de ir para o estúdio e algumas bases das músicas, mas se ouvires as canções … Não são muito complicadas. Basicamente tens que continuar a gravar enquanto estás a sentir a cena no momento e entrar no que estás a fazer. Existe estrutura nas músicas e espaço para improvisação, é esse tipo de música de que gosto. Mas também gosto de outras, gosto de pop e todo o tipo de música. Mas este álbum, definitivamente, atinge um pico onde há uma cena hipnótica, relaxada… Mais Neil Young do que Led Zepellin.
E como acabou por ser definido o roteiro de estúdios?
Sempre que fez sentido fazê-lo, não foi do género «vou aqui». Parava no caminho para um concerto, porque consigo pensar à frente o suficiente. Nas primeiras sessões, a primeira coisa que fizemos foi a gravação dos Violators, pois sabia que os Violators estavam com a agenda apertada. Num certo Verão disse para comigo mesmo: «Depois desta digressão de Verão, quero ir para o estúdio com o Peter Katis». A primeira música que gravámos foi a “Loading Zones” e depois, mais tarde, sabia que conseguiríamos gravar coisas semelhantes. Sabia que os The Sadies iam tocar no Stagecoast Festival, no deserto da Califórnia, por isso fui sair com eles e ver o Jerry Lee Lewis e o Willie Nelson e tocar com os Sadies. Depois saí do deserto e fui para L.A. gravar com o Rob Schnapf, com quem já tinha gravado no último álbum [“b’lieve i’m goin down…”, Matador, 2015]. O segredo para este álbum foi combinar mais do que uma coisa e não ir simplesmente para o estúdio gravar. Porque estar só no estúdio, com a minha idade e enquanto vou ficando mais velho, já não me excita como antigamente. Tenho que estar inspirado, tem que fazer sentido. Do género, sair de um concerto onde estás a tocar à frente de uma multidão de pessoas e ir directamente para o estúdio ou ir ver música que me inspira. Ou, em viagens com a família, parar em algum lugar no meio do caminho… Esse tipo de coisas tornam tudo muito mais natural.
Estar no estúdio já não me excita como antigamente. Tenho que estar inspirado, tem que fazer sentido. Do género, sair de um concerto onde estás a tocar à frente de uma multidão de pessoas e ir directamente para o estúdio ou ir ver música que me inspira.
E quando chegavas a um estúdio para fazer uma sessão preocupavas-te em ter equipamento específico ou experimentaste o que estava disponível?
Depende, às vezes trazemos as nossas próprias coisas e às vezes só levo uma guitarra. Em todos os sítios onde vou gravar, têm sempre algum equipamento, mas depende. Também gravei com o Shawn Everett e foi logo depois de uma digressão com a Courtney Barnett, por isso levei basicamente o equipamento que usei na digressão, a minha pedalboard e tudo o que estava habituado a utilizar e isso ajudou porque era o som que tinha desenvolvido ao longo de cinco semanas. E numa outra ocasião voltei a esse mesmo local e só levei uma guitarra acústica, depende muito…
Nesse sentido, chegas ao estúdio e gravas a música inteira ou andaste com backing tracks na bagagem?
Depende também, as faixas “Bottle It In” e “Cold Was the Wind” têm teclados muito estranhos… Gravei essas partes em casa e levei comigo, mas em última instância, gosto de finalizar a faixa com a pessoa que a começou. Aprendi isso no último álbum “b’lieve i’m goin down…”. Tentei ter o Rob Schnapf a misturar as coisas em que andávamos a trabalhar, mas as músicas que eles gravaram foram a “Pretty Pimpin”, “Wild Imagination”, etc. Ou seja, nas que adicionámos várias coisas, foram as que acabaram melhores, e as que levámos até ele para simplesmente misturar não possuem a mesmo emoção. Por isso aprendi a finalizar a música com a pessoa com que começaste, quando possível, e depois, claro, quando tens prazos para cumprir… O Peter Katis ajudou-me com o final dos dois álbuns, a misturar o que faltava.
Achas que para ficar mais homogéneo, vem mais da tua interpretação ou é uma questão de pós-produção, compressão, masterização…
Todas essas coisas. A alguém que está habituado a um certo tipo de álbum, não podes dizer que é isto ou aquilo. É coesivo de certa forma, mas por outro lado, não é coesivo, está por todo o lado. Mas é assim que o meu cérebro funciona.
Não consigo perceber pela capa do álbum, aquela é uma guitarra japonesa vintage, tipo uma Teisco antiga?
É do Rob Schnapf, não me lembro. É algo assim. Talvez seja uma Sears ou uma Silvertone. Foi o Rob Schnapf que ma mostrou quando estava no estúdio dele, tinha sido pintada há pouco tempo. Ele tinha uma estagiária que trabalhava no estúdio e tirou algumas fotos casualmente e nós até já tínhamos um fotografo profissional, mas depois vi as fotos e disse-lhe «devias vir amanhã e tirar fotos», e foi bom que ela o tivesse feito porque esqueci-me que íamos tirar fotos e tinha uma camisa da Planet Fitness, um sítio para fazeres exercício físico na América que toda a gente conhece, mas eu não faço exercício físico, o que foi hilariante. Esqueci-me que ia tirar fotos, por isso esse facto ainda torna a fotografia melhor, porque ficou muito casual.
Recentemente apresentámos e experimentámos os novos modelos Fender American Originals e nos comunicados de imprensa e brochuras que recebemos tu és um dos tipos associados. Estás a ser patrocinado por eles?
Sim. Não é exclusivo, mas acabaram de me dar uma American Vintage Jazzmaster nova, é fantástica, podes ver no meu Instagram. É Ocean Blue, linda. E tenho uma outra American Vintage Jazzmaster, estão a fazer-me uma American Original Jaguar. Essa fotografia de imprensa de mim é com outra guitarra do Rob Schnapf, uma Jazzmaster antiga, a fotografia está a preto e branco então não consegues perceber bem, mas é em Sky Blue, com tortoise shell pickguard, é linda… E vão fazer-me uma versão Jaguar dessa. Estou muito agradecido à Fender. E tenho várias Jaguar vintage também.
Há um rig rundown teu, em vídeo, onde tu elogias imenso uma Jag antiga de 64′, de onde é que essa paixão pelos modelos offset surgiu?
Diria que existem bandas fixes que ouvia na minha fase de crescimento. Uma das quais do meu parceiro de banda, Rob Laakso, que anteriormente estava numa banda chamada Wicked Farleys e tinha uma daquelas Jaguar Sunburst antigas e apresentou-me as pré-CBS Jaguar Sunburst. E também os Swirlies, de que ambos gostamos, tocavam com Jaguar antigas, era uma banda de estilo shoegaze… E tu olhas para aquelas guitarras e ao início não sabes exactamente o que são, só sabes que são fixes como tudo. Trocas-te entre a Jazzmaster e a Jaguar e depois apercebes-te que a Jaguar é mais agressiva e a Jazzmaster é um pouco mais dinâmica, talvez… Mais suave. Precisas de as estudar, de ver o que outros músicos fazem. Os Spacemen 3, no “The Perfect Prescription”, particularmente o Sonic Boom (aka Peter Kember), também utilizam essas Jaguar. As pré-CBS são as mais fixes.
É engraçado porque comecei por dizer que parecias um tipo descontraído e depois… A guitarra simples da Fender é a Tele e tu vais para as Jags…
Mas as Teles não têm um visual tão fixe! No entanto, adoro o modo como o Keith Richards as toca. Mas não são tão fixes.
E amplificadores?
Em casa tenho um Blackface 65′ Fender Deluxe e, actualmente, a minha cena favorita é… Tenho um Fender Champ Brownface de 1958 e quando vou tocar um solo ligo-o, por isso fica com um amplificador distorcido, em vez de usar um pedal… Também tenho um Magnatone, um daqueles reeditados. Nem me lembro do modelo, para ser sincero, mas é stereo, vibrato, etc. E tenho todo o tipo de amps em casa, tenho todos os tipos de amplificadores da Fender, Fender Vibro Champs, Princetons, Blackfaces, Twin Reverbs, Bandmasters, Bassman. Mas os que referi primeiro é o que estou a usar nesta digressão.