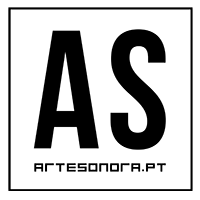Miguel Nicolau revela como começou a tocar guitarra e quais os guitarristas que tiveram um papel determinante na sua paixão pelo instrumento e no desenvolvimento da sua linguagem musical.
Para criar algo especial para uma edição que, em 2018, celebrou 10 anos de publicações queríamos algo que fosse inédito ou, no mínimo, incomum, na nossa imprensa musical. Isto, claro, além dos artigos sobre instrumentos e equipamento musical de sempre. Então surgiu a ideia de reunir numa edição histórica dez grandes guitarristas portugueses.
Miguel Nicolau teve vários falsos arranques com a guitarra. Ligado à música desde cedo, como tantos, através da fonoteca caseira, teve o primeiro contacto com o instrumento do pai, que tocava. Não gosta de mentir, afirma, antes de confessar nunca ter ficado muito entusiasmado com a música que o pai fazia. Mais tarde começou mesmo a brincar com a guitarra, num jogo, nas suas palavras, de ouvir música e descobrir as notas no braço do instrumento. Anti guitar hero, formou-se como músico a tocar na cena do Oeste, até criar um mundo esfuziante de delays e loops, uma linguagem bastante singular na guitarra eléctrica, em Memória de Peixe. A manipulação digital que faz ao seu som de guitarra levou-o a tornar-se um colaborador da exuberância 80’s do synth pop de Cavaliers of Fun. Juntando-se ao charme transatlântico de JP Simões, fechou o loop, passe a expressão, dos seus primeiros passos na bossa nova.
Para a entrevista completa, podem adquirir um exemplar da revista na nossa loja, para descobrir mais sobre os heróis do Miguel, basta fazer scroll.
Qual foi o teu primeiro contacto com a guitarra?
O meu pai tocava, mas não tive muita curiosidade. Mais tarde, um padrasto que tive tocava também e passava a vida com a guitarra nas mãos, a sacar coisas de ouvido. Ouvia muito jazz, muita bossa, muito rock e comecei a ouvir as músicas que ele tocava e fiquei muito curioso. Não só porque gostava da música que estava a ouvir, mas também pelo facto de ele fazer aquele jogo do treino auditivo, de adivinhar o acorde, adivinhar as melodias, e tentar ir atrás das coisas que estava a ouvir. Ele tocava muitíssimo bem e acho que a guitarra surgiu um bocadinho desse desafio. Houve um dia que ela estava ali parada e tentei fazer exactamente a mesma coisa, não percebendo nada. Essa guitarra tinha uma distância enorme entre o braço e as cordas, uma acústica para aí dos anos 50 [risos], com cordas de nylon, e tinha que fazer uma força enorme para pressionar naquilo. Mas era um jogo para mim. A guitarra começou como uma brincadeira de adivinhar onde é que estão as notas e tentar acertar. Foi tudo menos convencional. A forma como me iniciei na música foi pouco ortodoxa, porque foi muito assente em tentar ir à procura daquilo que ouvia. Ou seja, desenvolver muito o treino auditivo. Apesar de me dizerem que devia aprender e se não gostaria de ir para uma escola, não tinha muito entusiasmo nisso.
Mais escola…
Mais escola, exactamente! Mesmo as aulas de música no ensino escolar normal não me estimularam muito, a parte mais formal, até porque não sabia bem para que é que aquilo servia [risos] e já curtia muito a tocar como tocava. E foi assim, a guitarra estava na sala e acho que foi ela que até sugeriu ser tocada porque estava um bocado sozinha. Depois fui por aí fora, comecei a ter bandas, os meus pais ofereceram-me uma guitarra eléctrica muito barata, daquelas com os kits de iniciantes.
Não tiveste aquela fase dos guitar heroes, a tua cena eram os sons transatlânticos?
Fui mesmo anti guitar heroes ou, melhor, os meus não eram convencionais. Fui exposto à música de alguém que gostava de jazz, de fusão e de vanguarda e de rock, mas não fui exposto aos 70’s sequer, aos Pink Floyd. Então desenvolvi outro lado. Tocava muito com o meu padrasto, tentava imitar aquilo que ele fazia no braço da guitarra e dei por mim a tocar o “Samba do Avião”, o “Sambinha De Uma Nota Só”, e adorava genuinamente aquela música. Adorava rock, mas não gostava muito daquilo que na altura os meus colegas ouviam e de levar a guitarra para a escola e mostrar às miúdas. Gostava de miúdas, mas não dessa parte da exposição. Depois comecei a construir o meu próprio dicionário de ídolos. Pat Metheny, mais tarde o Kurt Rosenwinkel. Adorava. O João Gilberto. Música brasileira. O Al Di Meloa, aquele disco com o Paco De Lucia e o John McLaughlin. Houve uma altura que ouvia de tudo, até Tool, porque era aquilo que era mais diferente na altura. Comecei a desenvolver a ideia de haver pessoas a fazer sons não convencionais na guitarra. Não gostava muito daqueles solos épicos e via mais a guitarra como um jogo, como uma forma de fazer música. É um meio para chegar a um fim. A guitarra pode ter vários registos, um registo de lead, um registo harmónico ou o registo do baixo. Até porque quem não sabe tocar guitarra formalmente… Como é que chega à ideia de um acorde, como é que damos nomes? Decoramos os padrões de uma forma visual. Tal como as tónicas. Aquela ideia de que se este dedo se mexe então este acorde vai-se chamar assim. A forma como aprendi guitarra era como eu via a música e não a guitarra em si.
Acabaste por nunca ter uma instrução formal?
Foi tudo à base de cursos e workshops que fui fazendo a partir dos 19 anos. Porque, sobre esses músicos todos que ouvia em casa, a ideia no jazz, se falava da Berklee e daí tinha a noção de que era necessário estudar música para podermos evoluir. Acho que a educação é uma coisa fundamental, só que a educação clássica e aquilo que me chegava da experiência de amigos, que estavam a aprender de forma mais formal no conservatório, assustava-me um bocado. Escola, formatação, regras. Não andava muito interessado nas regras. Só que chegas a um ponto em que aquilo que consegues fazer só com o ouvido não é suficiente e percebi que devia ter bases. Então foi o processo oposto, fui tentar reconstruir as bases. Como tinha essa ideia da Berklee ser uma universidade muito “anti-ortodoxidade”, comecei a ver como era o ensino e o método deles. Havia um workshop na Irlanda e inscrevi-me no Berklee College of Music Dublin. Aí foi mesmo onde tive o choque de me aperceber que haviam pessoas que levavam mesmo a sério [risos] a notação musical, a harmonia, etc. Foi bom em todos os sentidos. Apercebi-me que para evoluir tem que se estudar a sério e, por outro lado, eles reconhecem essa parte do treino auditivo e da intuição como uma coisa fundamental.
No final, a pentatónica nunca foi uma paixão para ti?
Ouvia muito B.B. King e Eric Clapton, na verdade. É sempre complicado dizer que não passei pelos standards. Passei. Não fiquei foi lá muito tempo e não aprofundei por isso é que agora estou a começar a aprofundar as coisas que eram mais superficiais para mim. Por exemplo, Satriani, Steve Vai, esses virtuosos da guitarra, não gostava da música que eles faziam, do produto geral daquilo. Claro que têm coisas incríveis e são guitarristas exímios, o Steve Vai estudou na Berklee e tudo.
Não deixa de ser curioso porque a tua música tem muitas notas também…
É verdade. É um bocadinho progressiva também. Mas quando digo o Steve Vai, refiro-me a ser muitos arpeggios, muitas escalas, e o contexto em que ele está a tocar: aqueles acordes, aquela sequência, aqueles sintetizadores. Porque o gajo é um grande músico, mas depois a backing track que está por trás… É um pouco aquela cena de, se és guitarrista eléctrico e virtuoso, então fazes música para guitarra eléctrica daquela maneira virtuosa. Gosto mais de música noutro sentido.