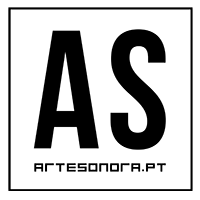A cantora cabo-verdiana é uma da habitantes desta nova Lisboa e “Manga”, o novo álbum que foi apresentado no Capitólio, será talvez o produto perfeito e não acabado da sua residência desde há um par de anos aqui à beira Tejo.
Lisboa ganhou o epíteto da cidade branca com o filme homónimo de Alain Tanner. Desde então, passou a ser um daqueles clichés que políticos e publicitários utilizam para despromover a cidade, em pregões e promoções de compra e venda e empreendedorismo e web summits. Vem embalado por clichés da luz e dos reflexos do Tejo, e das gaivotas e de pregões matinais que já não voltam mais.
Na realidade, se olharmos o momento do filme em que a expressão é cunhada, veremos que ela pouco tem a ver com qualquer destes chavões, enunciados até à exaustão por quem não ama verdadeiramente Lisboa (pois só a conhece na superfície), mas sim com a melancolia aguda do marinheiro que se vê obrigado a aportar na solidão e no silêncio branco. Também muito Lisboa portanto, mas menos dado a refrão de cariz promocional.
Lisboa nunca foi branca de alvenaria (e se por alturas em que Tanner cá filmou se notasse menos a cor do que na actualidade, tal se devia apenas a um profundo abandono autárquico, e a desleixos de proprietários sem papel para duas mãos de tinta), e nunca realmente foi branca de população, como principal cidade de um país miscigenado de origem dificilmente o poderia ser.
E esta cidade capital, que foi tomada a Mouros, que a haviam tomado a Godos, que a haviam administrado no lugar de Romanos, que a haviam absorvido a Fenícios que… Esta capital que sempre foi porto de escravos e imigrantes (que são eles próprios produto da escravidão de dívidas e da escassez) e nómadas e retornados; esta capital em cuja periferia se instalaram as populações que vieram do império atabalhoadamente concebido e à pressa desmoronado; esta capital, dizia, sempre foi a cidade mestiça da cor, e já no século XV era muitas vezes apontada pelo sempre mítico estrangeiro como tal, e o dedo que apontava não o fazia na maior parte das vezes num sentido elogioso, e quiçá agora, nesta nova Lisboa que redesperta da forma criativa e caótica com que sempre despertou ao longo dos séculos, agora que nela se cruzam empreendedores e influenciadores e trotinetes, chineses semi-clandestinos, negros e mouros endinheirados, cachupa requentada e fado arrefecido, os passos do Pessoa à porta tagada do palacete da Madonna…
Talvez agora seja mesmo a altura certa para um embalo como o que Mayra Andrade veio balancear no Capitólio.
O MAIS RICO TESOURO
A cantora cabo-verdiana é, agora, ela própria uma da habitantes desta nova Lisboa e o novo álbum que veio ser apresentado, “Manga”, será talvez o produto perfeito e não acabado da sua residência desde há um par de anos aqui à beira Tejo. Mayra é fruto da diáspora e da vertigem que Portugal introduziu num mundo provinciano há já alguns séculos a esta parte, quando decidiu, sem o saber, que esta coisa do partir e do voltar e da saudade, deveria passar a ser um modo de estar e viver.
Nascida em berço cubano, educada na Alemanha, maturada em França, Mayra fez desde muito cedo no seu percurso musical envolta na matriz da música cabo-verdiana. E Cabo Verde, esse conjunto de ilhas belo e inóspito, povoado de gentes arrancadas da costa africana e miscigenado, por força e por afecto, com gentes de cá e da Europa para lá dos Pirenéus; esse local onde Lisboa (não a Lisboa do povo e dos sentires, mas a Lisboa do capital e da coroa) aportava navios a caminho de outras colónias, quiçá mais ricas, esse parente pobre do império, salgado e esquecido ao lado dum áureo Brasil e de uma condimentada Índia e de uma abundante Angola; Cabo Verde, deu talvez o mais rico dos tesouros nesta pós modernidade em que todos os impérios materiais confluem e se desmoronam: um sentir especial das suas gentes, que são o produto de tantas gentes, e que formam um património cultural e, especialmente, musical, que é das ilhas e também é do mundo, uma vez que grande parte de Cabo Verde vive fora dele. Por aí. Pelos quatro cantos e pelos quatro ventos. E aportam, claro, no porto e no aeroporto de Lisboa, que assim volta a parecer outra vez quinhentista.
PANELÃO MUSICAL
A Mayra concebeu a “Manga” (que é fruto versátil, que pode ser comida amarga e doce, dentro e fora de época) no grande panelão musical de Cabo Verde: lá temos Morna, Funaná, Coladeira, géneros que se misturam pelas ilhas, pelo zelo da tradição e da regra subvertida na vontade de adicionar outras coisas e, como no Dragonball, fazer fusão. Isto é assim em Mayra Andrade, mas sempre o foi na matriz cabo-verdiana: as guitarras eléctricas, os baixos e as baterias entraram em força nos bastiões da tradição durante os anos sessenta, abafando a toada dos violões e ferrinhos, só para mais tarde, aquando da descoberta musical de Cabo Verde pelo mundo durante os noventa, se dar o ressurgimento do acústico e da tradição.
Mayra viu Cesária e B. Leza e Tito e Bana e Bau e Lido (e foi atrás deles, pois quem não seguiria tamanha procissão?), mas sempre imprimiu um cunho muito próprio naquilo que fazia. E é certo que quando a herança musical é tão rica, convém explorá-la e desfrutá-la, tomar-lhe a mestria, antes de partir para outros voos, mais pessoais e ousados. Se a vinda para Lisboa foi o catalisador para uma “Manga” multicolor, onde todos estes devires e tendências se conjugam, onde a tradição já ganhou suficiente corpo para em cima dele se poder construir novas estruturas, sem que o resultado saiba a pífio ou a armar ao moderninho, então era preciso, como chouriço do topo da cachupa, de testar este som na casa que lhe deu origem.
Mayra veio com o embalo e com animação de quem sabe que aqui vai encontrar o seu público. Acompanhada de uma renovada formação musical, o igualmente renovado Capitólio esteve à pinha para uma noite dupla de celebração. Nota-se o renascer no palco de alguém que, após toda uma vida de rodagem e experimentação e homenagem e colaboração e mistura, encontrou, de uma vez por todas, a sua voz e a sua presença.
O SOM DAS NOITES DE WAKANDA
Abrindo o palco como abre o disco, com a batida saltitante e o refrão irresistível de “Afeto”, a cantora não tem propriamente de fazer um esforço por aí além de conquistar a plateia, pois esta Lisboa já está conquistada, rendida e submetida desde o primeiro acorde, sem necessidade de torres do assalto ou entalanços na porta. Mesmo o primeiro e único entrave da noite, a corda que foi ao ar na guitarra de Euclide Gomes, serviu para dar dois dedos de conversa com o público, no à-vontade de quem está mesmo em casa. E apesar de proclamar a falta de jeito para contar piadas, há vozes que se podem dar o luxo de matar o tempo até a ler o Diário da República.
Guitarra renascida, e pronta para “Badia”, a contribuição de Cachupa Psicadélica para “Manga”. Lula’s é um dos nomes maiores de uma certa reinvenção de Cabo Verde neste nosso porto de cruzamentos improváveis, e “Badia” segue com corda renovada aquele ritmo circular de acordes ondulantes e jogos de palavras tão típicos do compositor, e a que o crioulo cabo-verdiano tão bem se presta: «Ta durmi noti i sunhá lua, Sunha lua, korda dia». E continuando no trilho dos novos cantautores da nova Lisboa, “Terra da Saudade” tem assinatura de Luísa Sobral, é inspirado em Mia Couto, e fala duma terra que, seguramente, vive no inverso das terras onde a lusofonia se expressa, onde as gentes não dançam e o mar é distante. É talvez a música que mais faz a ponte com o percurso até agora estabelecido pela cantora cabo-verdiana.
“Limitason”, pelo contrário, é onde encontramos uma Mayra renovada e a olhar para horizontes mais plenos. Há mais electrónica, mas usada de uma forma tão genuinamente orgânica que parece sempre lá ter estado, ao lado das raízes e do arrastar de conversa nas noites do Mindelo. Aqui e em “Tan Kalakatan”, há quase um afro futurismo, onde o mais ancestral do nosso percurso olha com olhos antigos para um mundo de satélites e milagres. A fibra óptica da savana. “Tan Kalakatan” é dançável, inteligente, e é muito sinuosa. Nas noites quentes de Wakanda deve-se dançar algo semelhante a isto.
“Festa Sto Santiago” é música morna de tarde pagã em celebração de santo católico. Ou talvez seja o contrário. Na lusofonia sempre se fez muito filho em dia de missa e romaria. “Pull Up” é a festa, com Mayra a pedir refrão e o público a corresponder. E assim, de repente e de fininho, saímos de “Manga” e voltamos a “Navega” de 2006, com “Tunuka”, mas sem nunca sair da celebração, afinal esta é a mais funananense das músicas de Mayra, com o ferrinho e cavaquinho a marcar o ritmo, nesse beat de povo que quer dançar e cagar na sobranceria da burguesia que não via o Funaná com bons olhos.
LISBOA NUNCA FOI BRANCA
Voltamos à fruta tropical do ano corrente, e depois de um pico de festa, um vale de acalmia com “Kode”, um pairar lento e melancólico de afastamento e saudade, e “Plena”, um mergulho no espaço cósmico do ser, com teclas e viola próximas de um certo psicadelismo impressionista, filtrado pelo viver de pé no chão da terra. Algo haverá no espaço das ilhas, talvez as suas próprias limitações de insularidade, que leva a que a mirada para o horizonte e para o infinito seja sempre mais forte.
E “Vapor di Imigrason” é quase um hino desse partir constante que tanto caracteriza Cabo Verde e as suas gentes. Com metade da população em diáspora, há sempre alguém que parte, sempre alguém que volta, sempre alguém que espera, ou que quer partir ou que quer voltar. Este sentimento deixa de ser um ocaso para passar a ser o próprio sentir do ser. E é possível cantá-lo com ritmo e alegria pois para cada partida há sempre uma chegada. A música foi composta ainda antes de “Navega”, mas encontrou agora a sua casa natural na discografia. “Manga” é o tema título, e é fruta, e é doce, e escorre como gotas suadas na pele. Mayra canta a Manga como um gato indolente a espreguiçar ao sol, e dificilmente poderá haver uma mais perfeita combinação de talento, beleza e carisma. O resto da banda contribui para o improviso, arrastando a música que não quer acabar, que se quer demorar só mais um bocado. Um doce como um manga na bu bóka.
“Manga” é o tema título, e é fruta, e é doce, e escorre como gotas suadas na pele. Mayra canta a Manga como um gato indolente a espreguiçar ao sol, e dificilmente poderá haver uma mais perfeita combinação de talento, beleza e carisma.
“Segredu” segura o ritmo cúmplice que já se estabeleceu, e faz-se uma apresentação de banda como deve ser, com direito a cântico para cada um dos músicos. “Lua” é um novo retorno a “Navega”, mas para todos os efeitos poderia ser uma música nova, de tal maneira que surge completamente reconfigurada: mais ritmada, mais urbana, e introduzindo um refrão de canto e resposta, num crescendo explosivo de tal forma contagiante que o público seguiu cantando até ao encore.
Dois retornos ao palco, o primeiro com “Reserva para Dois”, o tema de e com Branko (que foi apresentado na final da Eurovisão, num daqueles momentos inesquecíveis de pérolas para porcos e galinhas). E aqui é Mayra no seu mais urbano, em pleno no coração da sua nova casa, que é casario antigo mas desempoeirado, e que mais e mais descobre o quão bem se dá o casamento do velho e do novo, do vocoder com a guitarra portuguesa, de como a informação que viaja a velocidade luz vem adormecer na mormência do Tejo. “Ilha de Santiago” é a homenagem à casa (a outra casa, tantas casas) de onde toda esta riqueza musical brota. Em «corpinho de algodón».
No fim, quase a cappella, a composição da “mana” Sara Tavares, “Guardar Mais”, baixando as luzes, o ritmo, terminando um alinhamento muito bem cozinhado com um apagar suave da vela. Lisboa nova e velha, como ela sempre foi, e multi-cultural e multi-colorida, como ela sempre foi, guardou mais desta embaixadora das ilhas, que recebe e nos devolve os sons que os séculos guardaram nas paredes e nas calçadas desta cidade que nunca foi branca.