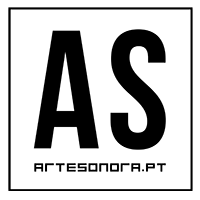Pedro Paixão e Ricardo Amorim, então na antecâmara do concerto dos Moonspell que deu origem a “Lisboa Under The Spell”, evocam os anos em torno dos icónicos álbuns “Wolfheart” e “Irreligious”.
Nos vinte anos de “Irreligious”, os Moonspell celebraram o impacto de um álbum que, na ressaca de “Wolfheart”, catapultou ainda mais a banda a nível internacional. A primeira fase dessa celebração viu a reedição do álbum em vinil e um épico concerto no Campo Pequeno, no dia em que a banda celebrou o seu 25º aniversário. Entretanto, a banda editou o álbum cantado em português, “1755”, e em conjunto com a Saída de Emergência editou a biografia “Lobos Que Foram Homens”, escrita por Ricardo Amorim (colaborador da revista LOUD!).
O concerto de 04 de Fevereiro de 2017 foi revivido em DVD, lançado a 17 de agosto, numa edição única e limitada que contém 1 DVD, 1 Blu-Ray e 3 CD’s ao vivo. O conteúdo conta com mais de 3 horas de espectáculo, onde a banda tocou um set especial, interpretando na íntegra os seus discos clássicos (“Wolfheart” e “Irreligious”) e o disco de 2015, “Extinct”. “Lisboa Under the Spell” contém ainda um documentário realizado por Victor Castro, que assina também a direcção do DVD, sobre as semanas que antecederam a subida ao palco, num olhar aos afectos e cumplicidade que rege esta banda lendária. Também a AS acompanhou de perto estes momentos, através de uma foto-reportagem do soundcheck e de uma entrevista nos dias anteriores ao evento.
Então na antecâmara do concerto, a Arte Sonora foi ao estúdio da banda para conversar com o teclista Pedro Paixão e com o guitarrista Ricardo Amorim, cujo primeiro álbum gravado com a banda foi, precisamente, “Irreligious”, disco que só na Alemanha vendeu 80.000 cópias e foi disco de prata em Portugal, na altura, atribuído por vendas acima das dez mil unidades. Pedro Paixão e Ricardo Amorim falam-nos sobre as mudanças de estética sonora e da banda, na época de “Wolfheart”, nos mitos e na preparação para um álbum que definiria, em grande parte, a carreira dos Moonspell. “Irreligious” finalizou uma certa trilogia que começou com “Under The Moonspell”, ao mesmo tempo que lançou as bases para “Sin”, álbum em que a banda começou a desenvolver um carisma mais singular.
TRILOGIA
Nos três primeiros registos passou-se do black metal e da celebração das raízes pagãs europeias e nacionais, para o ocultismo (com citações do Aleister Crowley e tudo isso) com uma certa sensualidade e sofisticação…
Pedro Paixão: É um facto que o “Irreligious” desliga-se das raízes nacionais, que naquela altura até dizíamos lusitanas. É um álbum muito sofisticado, sim, e na altura moderno e muito cosmopolita. Não é um álbum que tenha um estilo que consigas alojar directamente num território ou a uma cultura. É mais próximo do eixo do metal gótico, é até um marco no metal gótico. Para lá do facto de sermos portugueses e termos sempre o sentimento e a cultura que foi por nós absorvida, no nosso crescimento e desenvolvimento, quer enquanto músicos, quer enquanto pessoas. As melodias e os solos têm sempre aquilo que é nosso, mas é, de todos os álbuns que já fizemos, dos mais desligados da nossa cultura.
Olhando para “Under The Moonspell”, “Wolfheart” e “Irreligious”, a esta distância, sentem ali ímpetos de juventude ou de imaturidade que agora gostariam de alterar?
Paixão: É um lugar comum, e tem sentido que o seja, uma banda responder sobre um álbum tão antigo que as alterações seriam redundantes, porque o que aconteceu, o próprio sucesso que o álbum teve, quer a nível de público, que a nível de satisfação para a banda foi altíssimo. De modo que dificilmente pensamos em alterar alguma coisa a esses álbuns. Porque eles são o que são e orgulhamos-nos imenso deles. Se me perguntares se há coisas, não ligadas à imaturidade, em termos de ideias, mas mais em termos de performance que poderiam ter sido melhores… Estou-me a lembrar que a voz do Fernando é melhor hoje em dia do que era na altura. É aí onde se nota mais diferença: na performance. A simplicidade das músicas é algo que me agrada muito na produção do “Irreligious”, não vejo assim grandes alterações que gostaria de fazer e ao vivo espelhamos isso. Mesmo com o “Wolfheart”, mantemos-nos muito fiéis às versões originais porque também como fãs gostamos daquilo que ouvimos. As obras têm o seu tempo e as alterações seriam sempre, de alguma forma, destruidoras de algo. A alteração é a tal performance em que há músicas que ganham com isso, como por exemplo a “Opium”, que tem uma performance muito melhor. Não digo que fosse errática, de modo algum, apenas gosto muito mais da expressão da voz do Fernando, hoje em dia, do que na altura.
Aí já se contam imponderáveis como o envelhecimento físico…
Pedro Paixão: Exactamente. Aliás, a partir do “Sin” ele já apresentou níveis vocais muito melhores e isso está relacionado com o facto de que o “Irreligious” foi um álbum em que ele teve que cantar muito mais. E, tal como o baterista que de repente tem de começar a tocar dois bombos pela primeira vez e vai melhorando qualitativamente a sua prestação, o mesmo aconteceu neste caso. Mais do que corrigir erros, até porque o “Irreligious” está muito bem produzido, não tem falhas.
As ideias e os estilos foram mudando muito entre o “Under the Moonspell”, o “Wolfheart” e, finalmente, o “Irreligious”, ao qual a banda chegou depurada, o pico do desenvolvimento.
No “Irreligious” vocês já tinham feito tour europeia, mas não deixavam de ser uma banda a estrear-se na alta roda do metal e o Waldemar Sorychta era um peso pesado. Houve alguma subserviência às suas ideias de produção?
Paixão: Ainda hoje, somos colaboradores muito abertos. Na altura éramos mais subservientes, acho que aí sim, aplicar-se-á a palavra. Mas nunca fomos muito uma banda com a arrogância de ter, muitas vezes dizem que são os princípios ou que são… Não tínhamos essa arrogância, porque éramos jovens e sabíamos que estávamos a aprender. Aliás, no “Irreligious” há muita coisa que podemos dizer sobre esse álbum e sobre essa fase que tem muito haver com uma depuração da banda. Foi quando o Ricardo entrou na banda e quando assumimos apenas um guitarrista e todo o processo até chegar aí. O “Irreligious” é, de facto, um fechar do ciclo. Não diria trilogia, porque não há ali nada de conceptual, mas as ideias e os estilos foram mudando muito entre o “Under the Moonspell”, o “Wolfheart” e, finalmente, o “Irreligious”, ao qual a banda chegou depurada, o pico do desenvolvimento. No “Sin” começámos a ter mais conflitos de opinião com o Waldemar, mas até então não tínhamos, de forma alguma. Estávamos altamente abertos à aprendizagem e no “Irreligious” foi quando o aluno se tornou num excelente aluno. O “Irreligious” acabou por representar um trampolim para nós ao vivo.
Porque…
Paixão: Com “Wolfheart” já foi um salto, mas depois tornámo-nos numa banda newcomer, que gera sempre um certo interesse em termos mediáticos e, com o “Irreligious”, o que soubemos fazer foi saltar mais alto e mantermo-nos lá muito tempo. Mas não fizemos nenhuma tournée headliner com o “Irreligious”, éramos «uns pobretes, mas alegretes», como a minha avó dizia. Vivíamos em casa dos pais, eu vivia à conta da minha esposa… Não tivemos, digamos, a recompensa da vida real em comparação com o sucesso que o álbum gerou. Houve um fã nosso, curiosamente um português que vive na Alemanha, que me ofereceu uma revista em que estou na capa da RockHard. Na fotografia, estou em primeiro plano – logo eu, que sou sempre o tipo atrás das teclas. Achei um piadão e fui folhear. Éramos número 5 na “Leserchart”, Manowar em segundo, Iron Mainden primeiro, Metallica em terceiro… Isto para dizer: alguma vez imaginaríamos uma coisa assim? Ter um sucesso daquele nível e estar a fazer uma tournée com Type O Negative no final de 96 (a reportagem era sobre isso mesmo), em arenas enormes. Não sabíamos bem o que nos tinha acontecido, nem sequer pensávamos, íamos só em frente e preocupávamos-nos mais com tornar a banda mais harmoniosa. Porque foram tempos também de grande stress, de muitos concertos. Hoje em dia já lidamos muito bem com isso, na altura também, mas a banda não tinha aquela harmonia que depois, a partir do “Sin”, começa a ter.
Nunca fomos uma banda que vê com bons olhos qualquer tipo de separação…
Essa tal depuração inclui também situações negativas, como foi a incompatibilização com o Ares. Está tudo resolvido?
Paixão: Foi durante a tour do “Irreligious” que nos incompatibilizámos com maior fervor. As coisas começaram a deteriorar-se, algo que já vinha de trás, com certeza, mas tentámos segurar sempre a família ao máximo. Nunca fomos uma banda que vê com bons olhos qualquer tipo de separação… No entanto, até mais importante que isso, é que o “Irreligious” é fruto de, não só termos desistido de dois guitarristas, mas também de termos mudado pessoas. Porque o “Wolfheart” constituiu, nesse aspecto, um filtro muito forte. Atenção, o João Pereira, nomeadamente, é um amigo nosso e a quem reconhecemos o talento. Até temos vontade e já lhe dissemos que, às vezes, toque connosco ao vivo, com o Duarte não será tanto assim. Mas o que o “Wolfheart” acabou por causar, antes do Ricardo aparecer, foi o comprometimento que as pessoas tinham para com a banda e isso notou-se muito. Talvez pela fase da vida de cada um e longe de mim estar agora a criticar a vida dessas duas pessoas com as quais tivemos sempre boa relação. E especialmente o Duarte, como compositor, tem uma enorme admiração por parte de quem cá ficou e de quem veio a seguir.
Ricardo Amorim: Teve um papel muito importante na matriz.
Paixão: Sim, em toda a estética musical o Duarte teve muita importância… É parte da estética original, digamos assim. Mas o comprometimento com a banda será a característica mais importante dos membros, quando querem, naquela idade, arriscar…
Ou vão fazer o curso ou vão mesmo abraçar isto…
Paixão: Exacto. Seja o curso, seja o que for. A namorada ou uma profissão que não se quer largar, ou… Acontece com muitas bandas em Portugal, as pessoas terem medo de arriscar e uma ideia que tento transmitir muito à malta, que tem entre os 20 e os 30 é que arrisque! Vão ter uma oportunidade de construir algo se arriscarem e se não conseguirem atingir os seus objectivos, isso pode acontecer em qualquer outro ramo profissional ou até pessoal. Se depois decidem virar para outra direcção, tudo bem. E que se comprometam também com essa direcção. Mas nessa primeira fase da vida adulta, é muito importante comprometermo-nos com aquilo a que estamos ligados!
MITOS
A propósito de compromisso, há uma espécie de mito urbano sobre a vontade que o Ricardo tinha de entrar para a banda. Qual a verdade disto?
Amorim: Não é mito, sempre foi assumido. Quando descobri a banda, antes de mais, éramos todos vizinhos praticamente, não eram pessoas que eu não conhecesse, sabia mais ou menos como é que pensavam e que objectivos tinham e olhavam para a música de uma forma bastante alternativa, um bocado out of the box daquilo que se fazia na altura. E esteticamente achei aquilo sempre fabuloso. Pensava: «Gostava de tocar aqui, de contribuir para este tipo de projecto», porque já era a minha banda preferida. Fui um fã que entrou para a banda, não tenho rigorosamente problemas nenhuns em assumir isso, pelo contrário…
Paixão: O Ricardo, quando foi ao primeiro ensaio, tocava as músicas melhor do que os guitarristas, melhor do que nós! À excepção do Mike, que também era sempre muito comprometido como ensaiava e como fazia as coisas. Mas, lembro-me do primeiro ensaio e de o Ricardo estar a tocar coisas e elas soarem-me melhor do que nunca!
Amorim: Toda a gente sabia desse fascínio, mas nunca andei atrás, como um stalker a pedir a algum deles «deixa-me entrar para a banda». Até fiquei admirado quando me surgiu o convite porque não estava nada à espera. Conto sempre esta história. Foi num dia de Santo António, portanto, a malta antes ia (e ainda vai) para os copos na noite anterior e estava ressacado às 10 da manhã. Em modo “sem-saber-o-que-fazer-à-vida”… Tocam-me à porta e era a banda que queria falar comigo, queriam que substituísse o João. Pensei: «Espera aí, mas estou lúcido? Isto é verdade?» Respondi que obviamente tinha todo o interesse, tinha uma outra questão para resolver, estava numa outra banda, que tentei resolver da melhor maneira, e pronto… Juntei-me aos Moonspell.
Nós próprios e a música também somos reflexos dessa altura, nas condições técnicas que são sempre condicionantes.
Entras para a tour do Wolfheart. E depois como é que se passa desse papel em que és o fã da banda para fazeres surgir o teu carisma, nos novos temas?
Amorim: Contribuí com a música e o tal comprometimento que o Pedro falava. Quando apareceu a hipótese de fazermos uma digressão de 52 datas a abrir para Morbid Angel, numa carrinha, só com um mapa de estradas, nem GPS, nem telemóveis, nada… Não disse que não. E, sobretudo, contribuí com música. O “Irreligious” foi um disco espontâneo, foi bastante rápido. Lembro-me que um tema como “Raven Claws” durar um quarto de hora a ser feito assim do nada. Obviamente, levou posteriormente toda a produção que precisava, mas as músicas em concreto surgiam com alguma rapidez. As letras vieram mais tarde, o Fernando digeriu a música toda e depois apareceu com as letras e com as linhas vocais. Mas quando fomos em tournée com o “Wolfheart” já tínhamos uns 8 temas, dos 11 do álbum, em cassete. Estávamos sempre a ouvir a cassete! Escrevi esses 8 temas com o Pedro, que vivia ainda com a mãe. Tentei tocar o melhor que podia e conseguir aguentar a responsabilidade de substituir dois guitarristas também foi muito importante. Levou-me algum tempo.
Como era esse home studio de Moonspell, a meio dos anos 90? Equipado com Fostex…
Amorim: Não tem nada que saber. O Fostex veio mais tarde. Era com gravador e botão Rec.
Paixão: As fases foram variando. Lembro-me de no “Under The Moonspell” estar a fazer overdubs utilizando leitores de cassetes domésticos, aparelhagens em que conseguia introduzir uma e outra cassete, outro som. Activava o Rec ou ligava só o Rec com o Mic. No “Irreligious” acho que já utilizávamos um 4-track, não? Tu tinhas um ou o Mike tinha um velho…
Amorim: Não me recordo. Acho que só comprei um quando estávamos a compor o “Sin”. Mas até lá foi quase tudo com gravador. Era o que havia…
Paixão: Nós próprios e a música também somos reflexos dessa altura, nas condições técnicas que são sempre condicionantes. Quando decides pintar sem ter a paleta toda de cores (ou se vais fazer a preto e branco ou em sépia), decides as ferramentas e podes-te limitar. Há uma cunha cinematográfica. O Lars Von Trier está envolvido nisso, na DOGMA, na Dinamarca, e eles têm uma série de dogmas. Só aceitam projectos e os financiam para quem respeitar estes dogmas. Um dos quais é ser sempre câmara livre, nem com gruas, nem suportes, tem de ser mesmo filmado no ombro ou na mão. Acho isso muito interessante, porque quando definimos condicionantes para a criação artística, quer em termos temáticos, quer em termos estéticos, quer mesmo em termos materiais, está-se a “espicaçar” uma parte da criatividade. O “Irreligious”, no fundo, também é um dos frutos dessas condicionantes técnicas que havia na altura. Quando compúnhamos sentávamo-nos mesmo com os instrumentos e fazíamos as coisas in loco. E repetíamos. Repetíamos e íamos vendo. Hoje em dia consegues fazer muito mais coisas, como sabemos (nem vamos agora estar a deambular sobre essa área). Essa condicionante era muito interessante e as músicas são muito simples por causa disso mesmo. Lembro-me que houve muito trabalho de bateria, no entanto.
Por algum motivo específico?
Paixão: Porque o “Wolfheart” foi um choque para toda a gente, porque nunca tínhamos gravado num estúdio profissional naquela área, com um produtor dedicado a um estilo de música. Porque aqui trabalhava-se profissionalmente, sim, mas lá, lembro-me que só a introdução do metrónomo, já foi algo: «Epá… um metrónomo?» Vínhamos na sequela dos anos 80 e as bandas não gravavam com metrónomo, mesmo a nível internacional, e para nós, para o Mike principalmente, aquilo foi uma odisseia. Nem sei como ele conseguiu, bastante bem até. Tínhamos pouco tempo de gravação no “Wolfheart”.
Esse é outro dos mitos em torno da banda. Falava-se muito que, antes de gravar o “Irreligious”, o Mike se tinha submetido a cursos intensivos de bateria…
Paixão: Sim, sim. Teve com o Marcus Freiwald, a quem chamamos Makka. Era quem tratava da bateria no estúdio do Waldemar e no “Wolfheart” conhecemo-lo e tornámo-nos muito amigos dele – ele é casado com uma portuguesa, que não conheceu cá, nem por nós, é curioso. Tinha historial, conhecimentos e era professor de bateria (escreve livros e tudo isso). E o que o Waldemar pediu… Desde logo ficou muito satisfeito por termos substituído os guitarristas, mas a personalidade dele, nesse aspecto e naquela altura, podia ser outra, mais didáctica e não tanto…
Amorim: Se calhar, também se sentiu fora da zona de conforto dele. Para já, disse ter-lhe feito imensa confusão ver seis cabeludos… morenos [risos]! Era uma coisa estranha.
Paixão: Exactamente. Ele próprio é uma pessoa que tem as suas inseguranças, como todos nós, e isso se calhar foi fruto dessa insegurança, de pensar: «Como é que trabalho com este pessoal, fico confuso com toda esta gente morena». Havia hesitações dele, mas o Mike gravou o “Irreligious” nas calmas, o que o Marcus Friewald fez foi introduzir-lhe as técnicas mais próximas do que era a realidade do metal europeu, naquela altura.
Não se tratou de níveis de exigência?
Paixão: Não foi exigência, porque o Mike sempre foi muito exigente consigo próprio! Tem a ver com quais os métodos correctos para fazer as coisas e quais as mais importantes em que se devia focar. Porque não tínhamos… Naqueles anos, era instrumentista há muito pouco tempo, tocava teclado há ainda menos tempo, e era muito difícil trocar ideias com músicos…
Amorim: Sim, tratou-se mais de o Mike encontrar a forma mais eficiente de, enfim, comunicar aquilo que ele queria dizer.
Paixão: No final, a gravação do “Irreligious” foi muito suave. Sem problemas. Nem me recordo, particularmente, do processo de gravação.
[Opium] É uma das poucas músicas que uma pessoa consegue cantar a bateria.
Amorim: Depois do “Wolfheart”, o chip também mudou. Conheço a versão inicial do “Wolfheart”, tinha estruturas bastante mais complexas e houve ali um bocado de edição para tornar as músicas “mais músicas”. E quando se avançou para o “Irreligious” – não vivi a experiência do “Wolfheart”, mas foi-me transmitida a mensagem dos Woodhouse, chegou-me de forma indirecta. E a escrever tentámos sempre ir pelo mais simples e funcional possível, porque depois é mais fácil acrescentar do que já teres algo que não se consegue mexer e não sabes o que é que hás-de tirar, para tentar fazer uma música mais coesa e concisa. Isso tornou o disco mais rápido, com músicas bastante fortes e bastante impacto.
Terminando a questão da bateria, os bombos de “Opium” acabam por ser o grande marco musical do álbum…
Paixão: É uma das poucas músicas que uma pessoa consegue cantar a bateria. Raramente se consegue referenciar uma música por uma linha de bateria que consegues focalizar. Quando o Mike veio com esse beat num ensaio (na altura o Makka até estava cá a assistir ao ensaio), não sei se a guitarra já existia…
Amorim: Já! Mas foi mais uma daquelas coisas espontâneas, nem foi um padrão de bateria pensado, nem foi um processo de tentativa/erro. No ensaio ele diz: «Se calhar, faço isto!» e sai-me com aquilo! Olhámos uns para os outros… Está!
Paixão: Imagino o estímulo criativo que foi para ele, como músico, estar a receber tantas horas de informação nova, de como abordar o seu instrumento de forma mais eficiente. É algo que nos “abre”, quando aprendemos novos acordes, também fazemos novas músicas. Quando aprendes e aplicas isso num instrumento, toda essa informação aguça a criatividade.
RETROSPECTIVA
Em relação aos concertos, referiam o respeito pelas versões originais, mas hoje em dia ouvimos um tema como “Full Moon Madness” e é evidente o maior músculo que tem…
Paixão: Mas isso tem haver com o som!
Nesse sentido, não houve uma obsessão de reproduzir os discos ao ponto de irem buscar unidades que usavam nessa época, nem que seja por nostalgia?
Amorim: Em termos de som não. Quanto melhor for o equipamento e quanto melhor som tirar do equipamento prefiro que seja assim. Até porque se é para soar ao disco, mais vale ouvir o disco.
Paixão: Aquilo que digo é que nós não somos as mesmas pessoas. Quer dizer, somos as mesmas pessoas, mas não estamos naquela época e a forma como fazemos as coisas não tem de ser exactamente igual, especialmente em termos sonoros. Aquilo que refiro é que como fã de algumas bandas detesto novos arranjos nos originais. Bom, não detesto, mas tem de ser um arranjo muito bom. Em DVD, por exemplo, se for uma gravação ao vivo, posso com frequência gostar de um novo arranjo numa música. Agora, quando vou ver um concerto ao vivo e quero ouvir aquela música antiga, o clássico daquela banda que gosto, quero estar a sentir aquilo no meio de uma multidão. A ouvir o som com aquela potência tocada ao vivo. Quero ouvir a música como fã. Portanto, sou bocado contra mudar as estruturas ou até o arranjo principal. Algo com uma roupagem completamente diferente, isso sim, muitas alterações não. E mesmo em termos de sons de teclado e alguns delays (estou a lembrar-me da “Herr Spiegelmann”) que são muito distintos, é importante essas coisas existirem e estarem lá, porque fazem parte do álbum, fazem parte da canção.
As obras têm o seu tempo e as alterações seriam sempre, de alguma forma, destruidoras de algo.
Usas VST para esses sons ou ainda tens essas unidades?
Paixão: “Samplo” para dentro do MainStage [Logic Pro]. No fundo é VST, mas tentei recolher sempre as fontes originais do som. É mais complicado no “Wolfheart”, no “Irreligious” os sons nem são muito distintos. Digamos que reforço quando utilizo umas strings, tal como o Ricardo utiliza uma distorção melhor, mais corpulenta, porque de facto o som não tem corpo quase nenhum.
Amorim: Não é um disco que viva do som da guitarra, decididamente. Vives a soma de um todo. Mas isolas os instrumentos e… Tinha um mau som. Os efeitos procuro reproduzi-los sempre, sobretudo os delays. Procuro evoluir sempre é em termos de tom. O tom para mim, é sempre o que é mais importante. Quando tens bom tom, tudo o resto…
Estamos a falar de dois álbuns que, normalmente, fazem quase metade de um set de Moonspell…
Paixão: É um bocado isso. Adoro tocar a “Alma Mater” e é extremamente primitiva a nível de teclados… Não me interessa! Adoro o vibe que tem, tal como a “Full Moon Madness”, amo aquela música ao vivo! Já gostava em guitarra, adoro em teclados. É, digamos, a nossa bandeira. Moonspell nunca virou as costas ao passado, assume-o como era, o que já pode ser até um bocado obsoleto, mas as músicas são assim, os álbuns são assim. Assumimos isso completamente e acho que tem sempre um efeito maravilhoso nos espectáculos.
Fazendo retrospectiva, tendo em conta o sucesso que o “Irreligious” somou ao “Wolfheart”, aquele mega contrato de 6 discos com a Century Media, acabou por tornar-se demasiado extenso?
Paixão: É verdade. Lembro-me de quando o Robert Kampf, que é ainda hoje um dos directores, deixou mensagem telefónica a dizer que queria falar connosco. Lembro-me perfeitamente disso, de assinarmos o contrato, da celebração que foi e é verdade: foi um contrato de escravatura e estávamos todos a assinar contentes e felizes. Mas, ainda hoje, não olho isso como uma experiência negativa. Olho como um acontecimento muito positivo, porque cá estamos para as curvas e sobretudo porque foi o que era possível na altura. A Century Media era a 4AD do metal. Aquela que lançava os CD com mais estilo e com as bandas mais alternativas e com ideias novas. E até podíamos ter assinado por mais anos. Hoje em dia nunca assinaríamos um contrato daqueles. Mas tivemos uma melhoria de contrato com o “Irreligious”, porque o álbum teve muito sucesso e começámos a ter manager e ele melhorou-nos o contrato, mas ainda assim, muito longe dos contratos que fizemos depois de sair da Century Media.