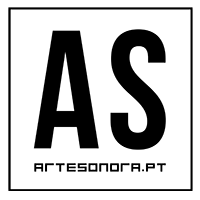Há um ano atrás, Lisboa marcou o arranque de um dos melhores anos na carreira de Steven Wilson. Preste a regressar a Portugal, o músico faz-nos uma retrospectiva da era “To The Bone”.
Há um ano atrás, Steven Wilson iniciou em Lisboa a digressão de apoio ao álbum “To The Bone, cuja sensibilidade pop assumida pelo mentor dos lendários Porcupine Tree, gerou algumas expectativas sobre como iriam reagir os fãs. A resposta ao disco foi fenomenal, com a crítica especializada e os fãs a referirem-se ao quinto disco a solo de Wilson como um dos melhores trabalhos da sua discografia. A digressão, que prossegue e irá visitar novamente Lisboa, já no dia 15 de Janeiro, teve como ponto alto a residência de três noites no Royal Albert Hall, de onde resultou a gravação de um álbum ao vivo e respectivo filme, “Home Invasion”, editado a 02 de Novembro de 2018.
Numa altura em que estava em digressão nos Estados Unidos, Steven Wilson atendeu-nos o telefone para fechar o círculo aberto na conversa de há um ano, fazendo agora uma retrospectiva a este período e prometendo uma experiência diferente a Lisboa. Também nos descreveu a sua pedalboard com minúcia, ele que é dono de um sublime som de guitarra.
Há um ano atrás, antes do início da digressão, estavas naturalmente expectante em relação a como os fãs iriam reagir a um disco tão distinto na tua discografia como é “To The Bone”, que acabou por se tornar um dos teus trabalhos de maior sucesso. Consegues fazer uma retrospectiva a este ano?
É verdade. Obviamente, cada vez que faço um novo disco tento fazer algo um pouco diferente. E neste havia uma maior sensibilidade pop. Não diria que estava preocupado sobre como os fãs mais ferrenhos o iriam acolher, mas certamente que estava na expectativa em perceber se lhe iriam virar as costas. E, na verdade, parece que isso não aconteceu. De certa forma, isso é um testemunho de como as pessoas e, particularmente, o meu público possui uma mente aberta e esperam que eu mude e que experimente coisas diferentes. E a canção que pensei que seria a mais controversa, a “Permanating”, tornou-se no momento mais alto de cada um dos concertos. A canção que põe toda a gente louca. Retrospectivamente, estou bastante agradado com a forma como as pessoas aceitaram o álbum. Creio levou o seu tempo a acontecer, a reacção inicial é sempre um pouco menos entusiástica, mas com o passar do ano as pessoas aceitam-no como uma parte muito importante do meu catálogo. Isso é maravilhoso.
Ter uma residência de três noites no Royal Albert Hall é tão fixe como parece?
Ui… É espantoso! O Albert Hall é a minha sala preferida, provavelmente no mundo inteiro. Não apenas por ser londrino, mas pela sua atmosfera histórica e mágica. Quando sobes ao palco do Albert Hall como que ficas ciente de todos os espectros daqueles que ali tocaram ao longo de tantas décadas. E tantos tocaram ali. E, de resto, dum ponto de vista simplesmente estético, é uma sala líndissima onde tocar. Sentes ali uma enorme ligação com a audiência, devido à disposição da sala que parece subir em vez de se afastar, sendo possível estabelecer contacto visual até com as pessoas que estão mais afastadas e isso cria uma sensação de intimidade. Portanto, é como um sonho tornado realidade ter tocado uma vez no Albert Hall, e o sentimento mantém-se agora que já o fiz umas sete ou oito vezes, incluindo essas três.
Só te ouvir descrever a sala, dá vontade de a visitar…
[Risos] Deviam fazê-lo! Só para se ter uma melhor ideia, o Gilmour ou o Clapton vão tocar lá quando podiam perfeitamente encher um pavilhão ou um estádio. Preferem estabelecer residência de várias noites no Albert Hall – o David pode fazer uns 15 concertos ali e o Eric uns 10. Apenas porque adoram a sensação de estar naquele palco. Sinto-me a entrar nesse clube, adoro essa sensação também. Façam um esforço para ver um espectáculo ali, vai valer a pena, sem dúvida.
Podes ensaiar tanto quanto queiras e nunca vais saber o que funciona e o que não funciona até actuares diante do público.
No que respeita a Lisboa, depois de teres iniciado aqui a digressão há um ano, o que se pode esperar desta vez?
Vai ser bastante diferente. Como referes, foi o primeiro concerto da tour e uma das coisas que fui percebendo ao longo dos anos é que podes ensaiar tanto quanto queiras e nunca vais saber o que funciona e o que não funciona até actuares diante do público. Quando subi ao palco em Lisboa, dando início a tudo isto, não tinha a certeza se o concerto estava 100% no ponto. De facto, nos concertos seguintes fui ajustando diversas coisas como a ordem do alinhamento, a própria escolha de músicas, alguns dos elementos visuais… E, claro, com a estrada percorrida a banda tem agora uma química completamente diferente entre si do que aquela que existiu no primeiro concerto. Estamos mais descontraídos, mais familiarizados com o material que tocamos, há canções diferentes, novos elementos visuais… Diria que vai ser uma experiência bastante distinta.
Agora que mencionaste a química entre a banda. Não pretendo destacar um músico em detrimento dos restante, mas aqui na AS conhecemos o Alex Hutchings há alguns anos, devido ao seu trabalho com marcas como a BOSS ou a Laney, em ambientes como a NAMM ou a Musikmesse. Como está ele a dar-se como um “jogador de equipa”?
Incrível! É um tipo extraordinário com o qual trabalhar, um gajo impecável, muito modesto e um enorme músico. É, de certa forma, a primeira banda com a qual se comprometeu e com quem tem estado em digressão o tempo todo e essa é uma nova experiência para ele. Mas ele mergulhou de cabeça nessa experiência, divertimo-nos imenso em palco e ele é mesmo um guitarrista extraordinário. E sabes que ele tinha uma enorme responsabilidade, para se mostrar à altura do meu anterior guitarrista, o David Kilminster, e do Guthrie Govan antes deste. Tive uma série de enormes guitarristas comigo, mas devo dizer que talvez esteja a gostar mais de tocar com o Alex do que qualquer um dos outros. Certamente que ele e o David foram aqueles com quem mais gostei de tocar.
Na nossa última conversa, louvaste imenso a tua ’63 Tele. Como se tem portado durante esse ano? Fizeste-lhe algumas modificações?
Nada! Têm-se portado lindamente. É uma daquelas guitarras que tem a sua personalidade, a qual não queres mudar. Não sou um expert no que respeita a guitarras, mas sabes quando pegas numa guitarra, a ligas e imediatamente te sentes vinculado? Foi isso que me aconteceu com essa guitarra! A última coisa que desejaria fazer seria mudá-la ou “melhorá-la”, o que nem sequer saberia como fazer. No início tive alguns problemas. Estava a partir imensas cordas (umas quatro por noite) e foi necessário algum trabalho a ajustar a ponte e as saddles para mim, mas agora raramente parto uma corda.
E o teu rig? Usas sempre o que está estabelecido (Bad Cat Lynx 50; Hughes & Kettner TubeMeister 5) ou não te importas de usar equipamento alugado?
Ando sempre com o meu rig. Obviamente, há algumas excepções como no caso dos concertos na Austrália ou Japão, em que alugo a amplificação que uso, mas tudo o resto (guitarras e pedalboard) segue-me para todo o lado. Porque é tudo bastante específico e sentir-me-ia desamparado sem isso.
Ia perguntar precisamente sobre a pedalboard. Podes descrevê-la e referir quais as unidades mais determinantes que tens?
Está tudo baseado num sistema switching da TheGigRig, todo com base em retransmissão, não tenho nada digital na pedalboard. Naturalemente que a intenção é tornar o percurso do sinal o mais puro possível. Uso um pedal de volume BOSS e um Cry Baby fora da pedalboard. No interior tenho um TC Polytune (que raramente necessito de usar). Tenho dois ou três pedais de modulação, sou um grande fã desse tipo de pedais – um Option 5, que simula o som de uma coluna Leslie (pois faço muito trabalho de overdubs em estúdio com uma); um Diamond Vibrato que me é muito caro, sempre que uso som limpo tenho uns pozinhos deste pedal; um Moog Minifooger Trem e ainda um EHX Small Stone, um modelo original de ’74, pois nesses pedais houve alterações de design a cada ano e soavam sempre diferentes. A maioria das distorções são provenientes do amp, mas por vezes uso o Analog Man Prince Of Tone, para os efeitos mais pesados, e para os mais subtis uso um Amptweaker Tight Rock Jr., procurem-nos! Que mais tenho? Um Cali76 Compressor, para alguns dos sons limpos, e o meu som de reverb e delay é feito com dois modelos Strymon, o BigSky e o Timeline, respectivamente, que uso com MIDI para poder ter uma configuração de reverb e delay em cada patch. E, por fim, tenho dois EHX Micro POGs – um configurado numa oitava acima e o outro numa oitava abaixo.
Pegando no exemplo do Option 5, não és maníaco no que toca a reproduzir o som de estúdio em concerto?
Não sou um desses tipos. Acho inútil e não creio que seja isso o que o público quer. Divertimo-nos imenso em palco, há muita improvisação, os solos são na sua maioria improvisados. Não tanto no que me diz respeito, tenho tendência a compor os meus solos, já que não sou suficientemente bom para os improvisar [risos], mas o Alex e o Adam [Holzman] fazem-no todas as noites. Temos algumas canções com o final em aberto, mais longo ou encurtado, consoante estejamos a senti-las nessa noite. Dinamicamente é muito diferente, tocar ao vivo vai tornando a dinâmica mais poderosa do que em estúdio, mais extrema!