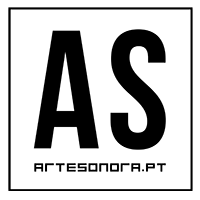O Gajo estreia hoje o single “Electro Santa” e o vídeo que o acompanha, na antecâmara do lançamento do álbum “Subterrâneos”, que a Rastilho edita em Março e que conta com convidados de classe mundial, entre eles Carlos Barretto e José Salgueiro. Vê um exclusivo making of do vídeo e lê a entrevista que João Morais concedeu à AS.
A AS esteve no cinema São Jorge, em Lisboa, a acompanhar em EXCLUSIVO as filmagens do vídeo para o novíssimo single de O Gajo, “Electro Santa”, tema instrumental que parte de um texto do poeta portuense Artur Rockzane sobre uma viagem a um mundo vertiginoso onde co-habitam anjos e demónios.
O vídeo que acompanha o tema explora dinâmicas fortes e um pouco psicadélicas, na tentativa de transportar o espectador para um ambiente visual algures entre a alucinação e o caos, com imagens rápidas, sobreposições e alguns efeitos caleidoscópicos. Mas O Gajo descomplica: «As pessoas que vão entrando em contacto com o projecto vão dando sempre referências diferentes. Já disseram um pouco de tudo. Vá, até agora nunca disseram que era trash metal [risos], mas há de facto uma transversalidade característica neste projecto, que roça alguns géneros distintos e isso é que me dá mais gozo, saber que não há uma regra, uma fórmula, uma cartilha para seguir».
Todavia, acrescenta que as especifidades de fazer música instrumental trazem a necessidade «de ter uma orientação, uma história para contar. Apesar de não ter palavras, esta música tem emoções, pelo que, desde o primeiro disco, e já lá vão 40 músicas, há a necessidade de ter algo, não tem de ser um texto, pode ser uma personagem, uma pessoa, o vizinho do lado, uma terra, mas tem de haver qualquer coisa que me permita criar uma bolha e, naquela semana – normalmente levo uma semaninha a fazer um tema – é para ali que vou e é ali que tento desenvolver a narrativa».
Foi por aí que iniciámos esta entrevista. João Morais conta-nos tudo sobre o novo tema (e álbum) composto e gravado em tempos de pandemia no estúdio Vale de Lobos, com produção de Carlos Vales (Cajó) e Guilherme Vales, e que contou com o precioso contributo de Carlos Barretto no contrabaixo e José Salgueiro na percussão. «Quando comecei este projecto, em 2016, comecei-o na forma mais despida possível, uma viola acústica e um gajo, tentando ter o menos possível em cima destes dois elementos. Mas a ideia sempre foi fazer crescer a família, mas nada como ter um alicerce em que isto possa funcionar da forma mais despida possível».
Qual é o sub-texto ou narrativa na base deste tema?
Surge de uma performance de leitura a que assisti em Lisboa, de um grupo de artistas do Porto [A Desfile D, Opiniões – Associação Cultural] – , através do qual conheci os textos do poeta Artur Rockzane. Vi-me numa situação em que aquilo me estava a emocionar, a tocar-me de alguma forma e, tendo em conta que estou sempre sensível a qualquer coisa que aconteça à minha volta para poder transportar para a música, percebi logo que tinha de transpor aquele momento para a minha arte. Fiquei muito atento, comprei o livro [“Beat”] e mergulhei nos textos. Foi a partir daí que tudo começou. Um texto em específico do Artur Rockzane – “Soror Messalina: Datura Ferox” – transportou-me para um certo lugar que tratei de musicar. Depois, como que vivi naquele ambiente, que é uma cena meio psicadélica, tentei ligar esses dois mundos: o mundo que encontrei nos textos e o meu próprio mundo. É nessa relação que surge aquilo que quero que as pessoas sintam. Quero que as pessoas que ouvem se transportem para esse lugar. Quando adquiri o livro, houve um momento, uma história que achei bastante curiosa, sobre uma personagem nascida em Moscovo a 24 de Dezembro de 1957, Messalina Vadim, filha de uma pintora russa e de um exilado português.
É à volta do universo desta personagem que gira o ambiente deste tema. Uma espécie de monja, muito psicadélica, muito barra pesada. Foi a partir desta matéria-prima que criei “Electro Santa”
Queres partilhar a história?
Claro! Até te leio uma passagem, para que se possa perceber onde fui buscar a inspiração para este misto de psicadelismo e abstracção. “(…) Confeccionada num vão de escadas, entre uma garrafa de tinto barato e umas quantas de vodka, foi parida em silêncio num outro vão de escadas por uma noite de natal enquanto que Irina – expulsa do pardieiro paterno – morria de frio e de solidão. (…) Aos 16 anos, o pai levou-a para Portugal. Psiquiatrizada desde a infância, ali continua uma longa carreira de internamentos até que há cerca de 20 anos desapareceu de uma unidade especial para ‘doentes perigosos’, um corpo encontrado no Tejo poderia ser o seu. Muito jovem, fundou o delirante convento, frequência que passou a usar nas suas transmissões. Noviça de Crowley [um gajo das astronomias com quem Fernando Pessoa contactava em Inglaterra] ou Maldoror Angelus (…)”. É uma espécie de monja, mas muito psicadélica, muito barra pesada, e foi ela quem me inspirou para esta canção. São ideias sonoras que vou desenvolvendo a partir de um texto. E assim já sinto que não estou na abstracção total, que não tem mal nenhum, mas no meu caso gosto de ter narrativas para seguir. Cada um faz como prefere, não há regras, mas gosto de fazer assim.
O título do álbum é “Subterrâneos”. Também há uma narrativa a suportar a escolha do nome?
A pandemia, de certa forma, impossibilitou-nos de estar com os outros e portanto obrigou-nos a estar connosco próprios. Cada um de nós se viu obrigado a estar mais consigo próprio. Tivemos uma espécie de encontro imediato connosco, com o nosso eu interior. E esse eu interior é, no fundo, o nosso subterrâneo, os nossos subterrâneos que andam por aqui [João Morais leva a mão ao peito]. E nem sempre esse encontro é feliz. Boa parte das vezes não é! Esses subterrâneos foram o que veio ao de cima nestes últimos meses, o que até pode ter sido bom para grande parte das pessoas, que talvez tenham descoberto coisas sobre si que nem sequer sabiam que existiam. Uns encontraram mais paz, mais solidariedade, outros mais inveja, egoísmo, mas são esses subterrâneos que habitam em nós e que eu quis expor neste disco.
A capa que ilustra o álbum é, também, reveladora desse orfismo.
A capa do disco é uma pintura de um artista de Arcos de Valdevez que conheci há pouco tempo, o Mutes, e são umas figuras meio disformes. A ideia é representar-nos. O que somos por dentro não é necessariamente o que somos por fora. Normalmente, por fora, tentamos ser bonitos, que é para as pessoas gostarem de nós, mas por dentro, às vezes, é uma deformidade brutal. E acho que a capa representa isso tudo na perfeição.
Ao contrário do que aconteceu nos outros álbuns, desta vez não estás sozinho. Cansaste-te de fazer tudo por ti ou quiseste mudar de rumo?
Os dois primeiros discos [“Longe do Chão” (2017) e o quádruplo EP “As 4 Estações do Gajo” (2019)] representam 30 músicas e deu perfeitamente para explorar a viola campaniça em todo o seu potencial a solo. Neste disco, quis rearranjar a fórmula. Não digo que já tivesse explorado o mais possível esta fórmula, apenas senti que este era o momento para aumentar a motivação. Nunca funciono sozinho, isolado, tenho tido sempre pessoas que me seguem e tenho sempre atenção a essas pessoas, principalmente quando estamos em palco – temos de ter esse respeito. Simplesmente, achei que estava na hora de oferecer mais qualquer coisa. Estamos num país pequeno, onde é fácil repetir os sítios e a fórmula pode esgotar-se rapidamente. Dás 15 concertos e já foste aos cantos todos do país… Chegas a um ponto em que tens de dar um passo noutra direcção. E agora é o momento. No entanto, estou a fazer este disco em trio, mas a pensar que qualquer dia volto a tocar sozinho… São ciclos. Até para manter o interesse.
O Carlos Barretto é um artista que trespassa, que toca com uma alma brutal e se queres fazer algo que vá para esses territórios, tens de te juntar a músicos que andem lá. E também acho que o José Salgueiro está naquele universo de músicos sobre os quais nunca se sabe bem o que esperar.
Numa altura em que toda a gente se confinou, tu saíste de casa para ires com outras duas pessoas para um estúdio…
[Risos] É clandestinidade, é contracultura. Abriu-se um espaço na minha vida que tinha de ocupar com alguma coisa e a composição de um disco pareceu-me ser o mais óbvio. Ter a oportunidade de trabalhar com o Carlos Barretto e de o ter convidado para fazer isto, nem tenho palavras. É óbvio que isto requeria alguns ensaios, mas nada disto que está a acontecer nos impedia de trabalhar. Se bem que muito do trabalho foi feito por mim, sozinho, na minha sala de ensaio. Fiz as bases e depois lá marcamos os ensaios para juntar o resto dos elementos e prepararmo-nos para o disco. É verdade que estamos em confinamento, mas com regras e segurança há sempre espaço para podermos ir desenvolvendo o nosso trabalho, senão, não fazemos nada…
Foi fácil o processo com o Carlos Barretto e o José Salgueiro?
Muitíssimo. Isto começou na minha sala de ensaios, onde criei as estruturas-base dos temas, depois enviei por e-mail ao Carlos e ao José e eles fizeram os respectivos trabalhos de casa. Quando nos juntámos a massa já estava bem moldada e tudo mais ou menos encaminhado. Esboçámos boa parte das canções em contexto de sala de ensaios, para depois não perdermos muito tempo em estúdio, mas o processo foi relativamente convencional. Comecei por convidar o Carlos Barretto. Não conhecia o José Salgueiro. Quando falei com o Carlos, atirei-me um bocado para fora de pé, foi mesmo para experimentar. Já tínhamos trabalhado no “As 4 Estações” [n.d.r. no tema “Fendas E Falhas”, do terceiro volume – “Cais Do Sodré”]. Com este disco quis arriscar, quis criar o disco num espaço desconhecido. Não quer dizer que o disco se mova num espaço desconhecido, mas quis trabalhar num espaço que não dominava. A música do Carlos e o que ele representa é uma viagem emocional. Ele toca mesmo, é um artista que trespassa, que toca com uma alma brutal e se queres fazer algo que vá para esses territórios, tens de te juntar a músicos que andem lá. Não sei as fórmulas dele, não conheço, não tenho formação musical, o que ele faz para mim é simplesmente transcendental. Depois, o Carlos e o José são amigalhaços de longa data e então o Carlos sugeriu o José. E também acho que o José Salgueiro está naquele universo de músicos sobre os quais nunca se sabe bem o que esperar. É um gajo super criativo, tem a técnica que o ajuda a ter ainda mais ferramentas para poder viajar à vontade e tem essa imprevisibilidade que quis procurar para este disco. São as pessoas que melhor me orientariam no desconhecido, o que pode parecer um contrassenso.
Para terminar, fala-nos do conceito do vídeo que estreia hoje.
Este vídeo é mais um paradoxo no meio de tantos. Quando falei com o realizador, o Francisco Noras, pedi-lhe basicamente uma coisa abstracta, sem história, daí as imagens meio psicadélicas que surgem ao fundo, uma espécie de caleidoscópio. Um vídeo sem história mas cheio de dinâmica, uma gestão visual atractiva e coerente, não desvirtuando a canção, que é para mim sempre o mais importante. Relativamente ao conceito é algo entre a abstracção e o psicadelismo, mas queria que o trio aparecesse, tendo em conta que é a primeira vez que estou a fazer uma cena com este grupo de pessoas. E atenção: não são pessoas quaisquer, não são músicos quaisquer, pelo menos para mim, também por isso quis que este momento ficasse marcado e que seja visível e possível de o mostrar daqui a 20 anos, tipo: ‘olha o que eu fiz um dia com o Barretto e o Salgueiro’. Posso não voltar a ter esta oportunidade.
Na segunda parte da entrevista, divulgada aquando da edição de “Subterrâneos”, a 15 de Março (em pré-venda aqui), iremos mais fundo em relação às questões artístico-técnicas que envolveram a produção do terceiro álbum de O Gajo, à paixão deste pela viola campaniça, à sua (ainda existente) relação com a guitarra eléctrica e à participação dos outros músicos convidados. Entra na galeria para conferires as imagens do making of do vídeo de “Electro Santa”, cuja reportagem em vídeo (um exclusivo AS) podes ver no player em baixo.